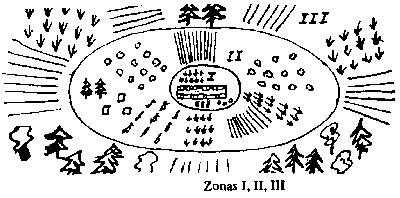:: txt :: Wladymir Ungaretti ::
Cuba não se rendeu. Resistiu durante 53 anos a todas as tentativas do Império de faze-la se curvar. Fidel vive. Che vive. Camilo vive. Cuba desarrumou a guerra fria, a divisão do mundo entre EUA e URSS. Sonho de uma América livre, igualitária e fraterna. Lembro do que representou a revolução e do comitês de solidariedade que participei como militante do movimento estudantil, início da década de 60. Cuba é a mesma e é uma outra, evidentemente. Mas quem cercou, acabou se rendendo. O Império ao anunciar o reatamento de relações diplomáticas reconhece que foi ineficiente o embargo. Foi vitoriosa a resistência do povo cubano. Esta é a verdade dos fatos. Não importa o que irá acontecer daqui para frente. É certo de que por maiores que forem as mudanças, consequência desse novo tempo, 53 anos de educação socialista com a toda a carga de solidariedade, fraternidade, espírito de igualdade não se perderá. A presença de Cuba, na atualidade, em toda a América Latina é indiscutível. Não é por acaso que os fascistas, andavam mandando tudo mundo para lá. E para a Bolívia, Venezuela e Equador. Não canso de repetir uma ideia do historiador Eric Hobsbawmm. Ele dizia que o século XX tinha, de fato, começado com a revolução russa de 1917. Sem qualquer pretensão comparativa, tenho dito que o século XX vai terminar quando o camarada Fidel morrer. Vida longa para o barbudo. Não existe ninguém importante do século passado que não tenha apertado a mão do velho guerrilheiro. O início do século XX e o seu final terá a marca da utopia, socialista. Ousar lutar, ousar vencer!!!!
#CADÊ MEU CHINELO?
sexta-feira, 19 de dezembro de 2014
sexta-feira, 31 de outubro de 2014
[gonzo níus] PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE QUALQUER COISA
:: txt :: Fausto Erjili ::
Disseram que eu havia morrido, que eu estava cheio de formigas na boca, atirado numa valeta por aí, mas posso provar que é boato, na verdade o motivo do meu distanciamento foi justamente para me aproximar das coisas que andam acontecendo aqui e acolá, questão de concentração, sabe? Poder assistir tudo de onde quer que eu estava, sem a interferência do próprio mundo; e posso dizer que deu muito certo, pois vomitava quase todo dia, a princípio pensei que pudesse ter sido o bíter, mas não.
Ocasionalmente, nessa época de eleições e a copa que a precedeu, eu andava lendo, entre uma parada, rodoviária do interior, ou um posto qualquer, o livro Manifesto Contra o Trabalho, dos ativistas alemães do Grupo krisis (um sujeito me questionou certa feita se o Grupo Krisis era uma banda alemã de krautrock, defenestrei-o), aí eu vi quão amadores são esse pessoal que fica protestando de forma inútil contra coisas idiotas e ainda se acham o máximo. Porra, os caras do Krisis são contra o TRABALHO! Não há nada mais anarquista do que isso. A esquerda política sempre adorou entusiasticamente o trabalho, ela não só o elevou à essência do homem, mas também o mistificou como pretenso contra-princípio do capital, é um princípio coercitivo social! É claro que não há nada de errado com o auto-sustento, uma forma alternativa de se sobreviver, o grande problema são as empresas, os patrões, os bancos, e toda essa gente filha da puta que nos inseriu nesse sistema-labirinto, e isso já há muito, muito tempo atrás; o trabalho está tão enraizado na nossa cultura que sequer cogitamos a possibilidade de pensar que existem outras formas de se sobreviver, sem necessariamente enriquecer essa pelegada, como diria Tony da Gatorra.
Mas vou mudar de assunto porque nesse exato momento estou sentindo as golfadas. Ontem voltei de viagem, estava cobrindo a grande temporada de Corrida de Charretes, em São Gabriel/RS, que ia da Vila Boa Vista até a Vila Camita, dando voltas e mais voltas por toda a cidade, 19 dias e 20 noites de pura efervescência, poeira pra todo lado, acidentes homéricos, brigas de facão, tiroteio, tudo, é claro, com o maior respeito ao próximo e dentro do espírito desportivo. O vencedor (tive a oportunidade de entrevistá-lo e inclusive tirei photos, mas infelizmente o rolo de 36 poses da fujifilm que coloquei em minha Zenit 122 queimou completamente) foi o Adão Tibiquira, um cara por volta de seus 63 anos, que vestia (durante todo o decorrer do certame) uma calça de tactel com guaiaca, uma camiseta da candidata Sandra Xarão e chinelos Samoa, que falou que estava ali para representar, segundo o próprio, todo o povo deste país chamado São Gabriel, a Terra dos Marechais [sic] e que não via a hora de comemorar a vitória (o prêmio foram duas cestas básicas, cortesia do mercado Três Estrelas) junto com seus ermãos na budega do Juvenal, à base de muita canha de butiá e vanerão.
Atropelando tudo e finalizando este txt de forma brusca, hoje é 31 de outubro, então vamos celebrar o Dia do Saci, que não por acaso cai no mesmo dia mundial da poupança.
"Ao vencedor, as batatas!"
Disseram que eu havia morrido, que eu estava cheio de formigas na boca, atirado numa valeta por aí, mas posso provar que é boato, na verdade o motivo do meu distanciamento foi justamente para me aproximar das coisas que andam acontecendo aqui e acolá, questão de concentração, sabe? Poder assistir tudo de onde quer que eu estava, sem a interferência do próprio mundo; e posso dizer que deu muito certo, pois vomitava quase todo dia, a princípio pensei que pudesse ter sido o bíter, mas não.
Ocasionalmente, nessa época de eleições e a copa que a precedeu, eu andava lendo, entre uma parada, rodoviária do interior, ou um posto qualquer, o livro Manifesto Contra o Trabalho, dos ativistas alemães do Grupo krisis (um sujeito me questionou certa feita se o Grupo Krisis era uma banda alemã de krautrock, defenestrei-o), aí eu vi quão amadores são esse pessoal que fica protestando de forma inútil contra coisas idiotas e ainda se acham o máximo. Porra, os caras do Krisis são contra o TRABALHO! Não há nada mais anarquista do que isso. A esquerda política sempre adorou entusiasticamente o trabalho, ela não só o elevou à essência do homem, mas também o mistificou como pretenso contra-princípio do capital, é um princípio coercitivo social! É claro que não há nada de errado com o auto-sustento, uma forma alternativa de se sobreviver, o grande problema são as empresas, os patrões, os bancos, e toda essa gente filha da puta que nos inseriu nesse sistema-labirinto, e isso já há muito, muito tempo atrás; o trabalho está tão enraizado na nossa cultura que sequer cogitamos a possibilidade de pensar que existem outras formas de se sobreviver, sem necessariamente enriquecer essa pelegada, como diria Tony da Gatorra.
Mas vou mudar de assunto porque nesse exato momento estou sentindo as golfadas. Ontem voltei de viagem, estava cobrindo a grande temporada de Corrida de Charretes, em São Gabriel/RS, que ia da Vila Boa Vista até a Vila Camita, dando voltas e mais voltas por toda a cidade, 19 dias e 20 noites de pura efervescência, poeira pra todo lado, acidentes homéricos, brigas de facão, tiroteio, tudo, é claro, com o maior respeito ao próximo e dentro do espírito desportivo. O vencedor (tive a oportunidade de entrevistá-lo e inclusive tirei photos, mas infelizmente o rolo de 36 poses da fujifilm que coloquei em minha Zenit 122 queimou completamente) foi o Adão Tibiquira, um cara por volta de seus 63 anos, que vestia (durante todo o decorrer do certame) uma calça de tactel com guaiaca, uma camiseta da candidata Sandra Xarão e chinelos Samoa, que falou que estava ali para representar, segundo o próprio, todo o povo deste país chamado São Gabriel, a Terra dos Marechais [sic] e que não via a hora de comemorar a vitória (o prêmio foram duas cestas básicas, cortesia do mercado Três Estrelas) junto com seus ermãos na budega do Juvenal, à base de muita canha de butiá e vanerão.
Atropelando tudo e finalizando este txt de forma brusca, hoje é 31 de outubro, então vamos celebrar o Dia do Saci, que não por acaso cai no mesmo dia mundial da poupança.
"Ao vencedor, as batatas!"
quinta-feira, 30 de outubro de 2014
[baderna] O FIM DA POLÍTICA
:: txt :: Grupo Krisis ::
A crise do trabalho arrasta consigo necessariamente a crise do Estado e, portanto, da política. Basicamente, o Estado moderno deve a sua carreira ao facto de o sistema produtor de mercadorias precisar de uma instância superior que garanta, no quadro da concorrência, os fundamentos jurídicos e os pressupostos da valorização do capital – incluindo um aparelho repressivo para o caso de o material humano se insubordinar contra o sistema. Na sua forma amadurecida de democracia de massas, no século XX, o Estado teve de assumir, de forma crescente, encargos de natureza socio-económica: não apenas o sistema de segurança social, mas também a saúde e a educação, a rede de transportes e de comunicações, infra-estruturas de todo o tipo que se tornaram indispensáveis para o funcionamento da sociedade do trabalho, enquanto sociedade industrial desenvolvida, mas que não podem ser organizadas de acordo com o processo de capitalização da economia empresarial. E isto porque as infra-estruturas têm de estar permanentemente disponíveis para o conjunto da sociedade e têm de cobrir todo o território, não podendo portanto ser obrigadas a adaptar-se às conjunturas da oferta e da procura no mercado.
Mas como o Estado não é uma unidade autónoma de valorização do capital, e portanto não pode transformar trabalho em dinheiro, tem de ir buscar dinheiro ao processo de capitalização realmente existente para financiar as suas tarefas. Esgotado o processo de ampliação do capital, esgotam-se também as finanças do Estado. Aquele que parecia ser o soberano da sociedade revela-se afinal totalmente dependente da cega e fetichizada economia da sociedade do trabalho. Pode legislar como bem entender, mas, quando as forças produtivas crescem para além do sistema de trabalho, o direito estatal positivo fica no vazio, uma vez que só pode referir-se a sujeitos do trabalho.
Com o desemprego de massas, sempre crescente, secam as receitas estatais provenientes dos impostos sobre os rendimentos do trabalho. As redes sociais rompem-se assim que se atinge uma massa crítica de «supérfluos» que, em termos capitalistas, só podem ser alimentados através da redistribuição de outros rendimentos financeiros. Na situação de crise, com o acelerado processo de concentração do capital, que ultrapassa as fronteiras das economias nacionais, desaparecem também as receitas fiscais resultantes da tributação dos lucros das empresas. Os trusts transnacionais obrigam os Estados em competição pelos investimentos à prática do dumping fiscal, social e ecológico.
É precisamente este processo que leva o Estado democrático a transformar-se em mero administrador da crise. Quanto mais se aproxima do estado de emergência financeira, mais se reduz ao seu núcleo repressivo. As infra-estruturas são orientadas segundo as necessidades do capital transnacional. Como outrora nos territórios coloniais, a logística social restringe-se cada vez mais a um número restrito de centros económicos, enquanto o resto fica abandonado. Privatiza-se o que pode ser privatizado, mesmo que com isso cada vez mais pessoas fiquem excluídas das mais elementares formas de abastecimento. Quando a valorização do capital se concentra num número cada vez menor de ilhas do mercado mundial, deixa de ser possível dar cobertura ao abastecimento das populações em todo o território.
Na medida em que tal não diga directamente respeito aos sectores relevantes para a economia, já não interessa saber se os comboios andam ou se as cartas chegam ao destino. A educação passa a ser um privilégio dos vencedores da globalização. A cultura intelectual, artística e teórica é entregue ao critério do mercado e agoniza. O sistema de saúde deixa de ser financiável e degenera num sistema de classes. Primeiro lenta e disfarçadamente, depois de modo aberto, passa a valer a lei da eutanásia social: quem é pobre e «supérfluo» deve morrer mais cedo.
Apesar de toda a abundância de conhecimentos, capacidades e meios da medicina, da educação, da cultura, da infra-estrutura geral, a lei irracional da sociedade do trabalho, objectivada em termos de «restrição ao financiamento», fecha-os a sete chaves, desmantela-os e atira-os para a sucata – exactamente como acontece com os meios de produção agrários e industriais que deixaram de ser «rentáveis». O Estado democrático, transformado num sistema de apartheid, nada mais tem para oferecer àqueles que até agora eram os cidadãos do trabalho do que a simulação repressiva da ocupação em formas de trabalho barato e coercivo, e o desmantelamento de todas as prestações sociais. Num estádio mais avançado, é a própria administração estatal que pura e simplesmente se desmorona. Os aparelhos de Estado tornam-se mais selvagens, transformando-se numa cleptocracia corrupta, os militares transformam-se em bandos armados mafiosos e a polícia em assaltantes de estrada.
Não há política no mundo que possa parar este desenvolvimento e, muito menos, invertê-lo. Pois a política é, por essência, uma acção em referência ao Estado; consequentemente, com a desestatização, ela fica sem objecto. A fórmula democrática de esquerda, que fala da «progressiva configuração política» das relações sociais, torna-se cada dia mais ridícula. Para além de uma repressão sem fim, do desmantelamento da civilização e do apoio ao «terror económico», já não há nada para «configurar». Uma vez que a finalidade autotélica da sociedade do trabalho é o pressuposto axiomático da democracia política, não pode haver nenhuma regulação político-democrática para a crise do trabalho. O fim do trabalho é o fim da política.
A crise do trabalho arrasta consigo necessariamente a crise do Estado e, portanto, da política. Basicamente, o Estado moderno deve a sua carreira ao facto de o sistema produtor de mercadorias precisar de uma instância superior que garanta, no quadro da concorrência, os fundamentos jurídicos e os pressupostos da valorização do capital – incluindo um aparelho repressivo para o caso de o material humano se insubordinar contra o sistema. Na sua forma amadurecida de democracia de massas, no século XX, o Estado teve de assumir, de forma crescente, encargos de natureza socio-económica: não apenas o sistema de segurança social, mas também a saúde e a educação, a rede de transportes e de comunicações, infra-estruturas de todo o tipo que se tornaram indispensáveis para o funcionamento da sociedade do trabalho, enquanto sociedade industrial desenvolvida, mas que não podem ser organizadas de acordo com o processo de capitalização da economia empresarial. E isto porque as infra-estruturas têm de estar permanentemente disponíveis para o conjunto da sociedade e têm de cobrir todo o território, não podendo portanto ser obrigadas a adaptar-se às conjunturas da oferta e da procura no mercado.
Mas como o Estado não é uma unidade autónoma de valorização do capital, e portanto não pode transformar trabalho em dinheiro, tem de ir buscar dinheiro ao processo de capitalização realmente existente para financiar as suas tarefas. Esgotado o processo de ampliação do capital, esgotam-se também as finanças do Estado. Aquele que parecia ser o soberano da sociedade revela-se afinal totalmente dependente da cega e fetichizada economia da sociedade do trabalho. Pode legislar como bem entender, mas, quando as forças produtivas crescem para além do sistema de trabalho, o direito estatal positivo fica no vazio, uma vez que só pode referir-se a sujeitos do trabalho.
Com o desemprego de massas, sempre crescente, secam as receitas estatais provenientes dos impostos sobre os rendimentos do trabalho. As redes sociais rompem-se assim que se atinge uma massa crítica de «supérfluos» que, em termos capitalistas, só podem ser alimentados através da redistribuição de outros rendimentos financeiros. Na situação de crise, com o acelerado processo de concentração do capital, que ultrapassa as fronteiras das economias nacionais, desaparecem também as receitas fiscais resultantes da tributação dos lucros das empresas. Os trusts transnacionais obrigam os Estados em competição pelos investimentos à prática do dumping fiscal, social e ecológico.
É precisamente este processo que leva o Estado democrático a transformar-se em mero administrador da crise. Quanto mais se aproxima do estado de emergência financeira, mais se reduz ao seu núcleo repressivo. As infra-estruturas são orientadas segundo as necessidades do capital transnacional. Como outrora nos territórios coloniais, a logística social restringe-se cada vez mais a um número restrito de centros económicos, enquanto o resto fica abandonado. Privatiza-se o que pode ser privatizado, mesmo que com isso cada vez mais pessoas fiquem excluídas das mais elementares formas de abastecimento. Quando a valorização do capital se concentra num número cada vez menor de ilhas do mercado mundial, deixa de ser possível dar cobertura ao abastecimento das populações em todo o território.
Na medida em que tal não diga directamente respeito aos sectores relevantes para a economia, já não interessa saber se os comboios andam ou se as cartas chegam ao destino. A educação passa a ser um privilégio dos vencedores da globalização. A cultura intelectual, artística e teórica é entregue ao critério do mercado e agoniza. O sistema de saúde deixa de ser financiável e degenera num sistema de classes. Primeiro lenta e disfarçadamente, depois de modo aberto, passa a valer a lei da eutanásia social: quem é pobre e «supérfluo» deve morrer mais cedo.
Apesar de toda a abundância de conhecimentos, capacidades e meios da medicina, da educação, da cultura, da infra-estrutura geral, a lei irracional da sociedade do trabalho, objectivada em termos de «restrição ao financiamento», fecha-os a sete chaves, desmantela-os e atira-os para a sucata – exactamente como acontece com os meios de produção agrários e industriais que deixaram de ser «rentáveis». O Estado democrático, transformado num sistema de apartheid, nada mais tem para oferecer àqueles que até agora eram os cidadãos do trabalho do que a simulação repressiva da ocupação em formas de trabalho barato e coercivo, e o desmantelamento de todas as prestações sociais. Num estádio mais avançado, é a própria administração estatal que pura e simplesmente se desmorona. Os aparelhos de Estado tornam-se mais selvagens, transformando-se numa cleptocracia corrupta, os militares transformam-se em bandos armados mafiosos e a polícia em assaltantes de estrada.
Não há política no mundo que possa parar este desenvolvimento e, muito menos, invertê-lo. Pois a política é, por essência, uma acção em referência ao Estado; consequentemente, com a desestatização, ela fica sem objecto. A fórmula democrática de esquerda, que fala da «progressiva configuração política» das relações sociais, torna-se cada dia mais ridícula. Para além de uma repressão sem fim, do desmantelamento da civilização e do apoio ao «terror económico», já não há nada para «configurar». Uma vez que a finalidade autotélica da sociedade do trabalho é o pressuposto axiomático da democracia política, não pode haver nenhuma regulação político-democrática para a crise do trabalho. O fim do trabalho é o fim da política.
sexta-feira, 17 de outubro de 2014
[bolo'bolo] YALU
Os bolos tendem a produzir sua comida tão perto quanto possível de suas construções centrais, de modo a evitar transportes e viagens longas, o que naturalmente significa perda de tempo e de energia. Por motivos semelhantes haverá muito menos importação de petróleo, forragem e fertilizantes. Métodos apropriados de cultivo, uso cuidadoso do solo, rodízios e combinação de diferentes plantios são necessários sob essas condições. O abandono da agricultura industrializada de larga escala não resulta necessariamente na redução da produção, porque pode ser compensada por métodos mais intensivos (já que existe uma força de trabalho agrícola maior) e pela preferência por calorias e proteínas vegetais. Milho, raízes, soja e outros feijões podem garantir combinações para uma alimentação segura*. A produção animal (que consome imensas quantidades exatamente das colheitas mencionadas acima) deverá ser reduzida e descentralizada, bem como, em grau menor, a produção de laticínios. Haverá bastante carne, mas porcos, galinhas, coelhos, ovelhas e cabras serão encontrados em volta dos bolos, nos quintais, correndo pelas antigas ruas. Assim, sobras de qualquer tipo podem ser usadas de uma forma integrada par produzir carne.
Será que a comida do bolo’bolo vai ser mais monótona? Decairá a gastronomia, já que a importação exótica e produção em massa de bifes, galetos, filés e picanhas será drasticamente reduzida? Será a Idade das Trevas dos gourmets? É verdade que se pode encontrar uma grande variedade de comidas em supermercados dos Trabalhadores A – cocos no Alaska, mangas em Zurich, vegetais no inverno, todos os tipos de frutas em lata e de carnes. Mas ao mesmo tempo a comida nativa é freqüentemente preterida, apesar de sua qualidade e frescor. Onde a variedade de comida local é pouca (por motivos de baixa produção, ou porque seu cultivo é intensivo demais sob certas condições econômicas), há importações onerosas de produtos de baixa qualidade, sem gosto, defeituosos, pálidos e aguados, vindo de áreas onde a mão-de-obra é barata. É uma falsa variedade, e só por esta razão a novíssima alta cozinha francesa se tornou a cuisine du marché, ou seja, usa comida fresca e produzida no local. Produção massiva de comida e distribuição internacional não são apenas nonsense e razão da permanente crise de fome mundial: também não nos dão uma boa comida.
A verdadeira gastronomia e a qualidade da nutrição não dependem de importações exóticas e da disponibilidade de carnes. Cultivos e criações caprichados, tempo, refinamento e inventividade são muito mais importantes. O lar da família nuclear não se presta a esses requisitos: o horário das refeições é muito curto, e o equipamento muito pobre (mesmo sendo altamente mecanizado). Força a dona-de-casa ou outros membros da família a cozinha de maneira simples e rápida. Em grandes kana ou cozinhas de bolos, pode haver um excelente restaurante (grátis) em cada bloco, e ao mesmo tempo uma redução de trabalho, energia e desperdício. A ineficiência e a baixa qualidade culinária das pequenas casas é justamente a contrapartida da agroindustrialização.
Em muitos casos, cozinhar é um elemento essencial na identidade cultural de um bolo, e nesse contexto não é realmente trabalho, mas parte das paixões artísticas produtivas de seus membros. É exatamente a identidade cultural (nima) que traz mais variedade à cozinha, não o valor dos ingredientes. É por isso que muitos pratos simples (e freqüentemente sem carne) de um país ou de uma região são especialidades em outro lugar. Spaghetti, pizza, moussaka, chili, tortillas, tacos, feijoada, nasi-goreng, curry, cassoulet, sauerkaut, goulash pilaf, borsht, couscous, paella, etc. são pratos populares relativamente baratos em seus países de origem.
A possível variedade de identidades culturais nos bolos de uma determinada cidade produz a mesma variedade de cozinhas. Numa cidade há tantos bolo-restaurantes típicos quantos bolos existirem, e o acesso a todos os tipos de comidas étnicas ou outras será muito mais fácil. Hospitalidade e outras formas de troca permitem um intenso intercâmbio de comensais e cozinheiros entre os bolos. Não há razão para a qualidade desses bolo-restaurantes (eles podem ter diferentes formas e locais) não ser mais alta que a dos restaurantes de hoje, particularmente devido à redução do stress: não haverá necessidade de calcular custos, nem correrias, nem horários de almoço ou de jantar (a hora das refeições vai depender sempre da bagagem cultural de cada bolo). No geral haverá mais tempo para a produção e preparação de comida, já que isso faz parte da autodefinição de um bolo. Não existirão multinacionais de alimentos, nem supermercados, nem garçons nervosos, donas-de-casa estafadas, cozinheiros em turnos eternos...
Uma vez que o frescor dos ingredientes é crucial para a boa cozinha, as hortas perto do bolo são muito práticas (na zona 1). Os cozinheiros podem plantar muitos ingredientes pertinho da porta da cozinha, ou conseguí-los em cinco minutos de uma horta próxima. Teremos muito tempo e espaço para esses cultivos em pequena escala: ruas convertidas ou estreitadas, garagens de automóveis, tetos de laje, terraços, canteiros e parques puramente decorativos, áreas de fábricas, pátios, porões, viadutos, lotes vazios, todos estarão cheios de terra para hortas, galinheiros, ranários, lagos de peixes e patos, tocas de coelhos, morangos, culturas de cogumelos, pombais, colmeias (a melhor qualidade do ar vai ajudar muito), árvores frutíferas, plantações de cannabis, vinhas, estufas, culturas de algas, etc. Os ibus vão estar rodeados por todos os tipos de produção molecular de comida. (E é claro que cachorros também são comestíveis.)
Os ibus terão tempo bastante para coletar comida em bosques e outras áreas não cultivadas: cogumelos, amoras, camarões de água doce, mexilhões, pescados, lagostas, caracóis, castanhas, aspargos selvagens, insetos de todos os tipos, caça miúda, urtigas e outras plantas selvagens, nozes, faias, caroços de jaca, cocos de todos os tipos, bardana, bolotas de carvalho, etc. Podem servir para fazer pratos surpreendentes. Embora a dieta básica possa ser (dependendo da identidade cultural do bolo) monótona (milho, inhame, feijão, couve) pode variar com inumeráveis molhos e pratos complementares. (Mesmo que a gente assuma no momento uma puramente ecológica atitude do menor esforço.)
Outra fonte de enriquecimento da bolo-cozinha é trazida pelos ibus viajores, hóspedes ou nômades. Eles introduzem temperos novos, molhos, ingredientes e receitas de países distantes. Como esses tipos de produtos exóticos só são necessários em pequenas quantidades, não há problema de transporte e eles estarão disponíveis em maior variedade do que hoje. Outra possibilidade para o ibu conhecer cozinhas interessantes é viajar; já que recebe hospitalidade onde quer que vá, pode provar os pratos originais de graça. Em vez de transportar produtos exóticos e especialidades em massa, com a conseqüente deterioração do ambiente, é mais razoável fazer de vez em quando uma volta ao mundo gastronômica. Como o ibu tem todo o tempo que quiser, o próprio mundo se tornou um supermercado real.
Conservar, fazer picles, engarrafar, desidratar, defumar, curar e congelar (que são energeticamente razoáveis para uma kana inteiro ou um bolo) podem contribuir para a variedade da comida durante o ano inteiro. As despensas dos bolos vão ser muito mais interessantes do que as nossas geladeiras de hoje. Os diferentes tipos de vinho, cerveja, licor, uísque, queijo, tabaco, salsichas e drogas vão se desenvolver como especialidades de certos bolos e serão trocados entre eles. (Como era na Idade Média, quando cada monastério tinha sua especialidade.) O poder dos prazeres que foram destruídos e nivelados pela produção de massa pode ser restaurado, e redes de relações pessoais entre peritos vão se espalhar pelo planeta inteiro.
*Soja, milho, painço e tubérculos podem garantir a ração mínima, mas sozinhos não representam uma alimentação saudável. Têm que ser combinados com carne, vegetais, ovos, gorduras, óleos, queijo, ervas e temperos. A soja contém 33% mais proteína por unidade de superfície do que qualquer outra colheita. Combinada com arroz, milho ou trigo, seu aporte protéico aumenta de 13 a 42%. Ela pode ser usada para produzir uma ampla variedade de alimentos: leite de soja, queijo (tofu), tofu desidratado, okara (fibras), molho de soja (shoyu), massa de soja (misso), farinha de soja, especialidades regionais como tempeh, yuba, nato e um sem-número de outras. Na África, o feijão niebe é quase tão prático quanto o feijão de soja, (Albert Tevoedjre, La Pauvreté-Richesse des Peuples, Les Editions Ouvrières, Paris, 1978, p. 85.) Um dos problemas iniciais quanto à auto-suficiência baseada nessas colheitas será reintroduzir o material genético original (sementes) que foi substituído pelos produtos industriais, geralmente instáveis e vulneráveis.
quinta-feira, 16 de outubro de 2014
[agência pirata] O RETORNO DE GEORGE ORWELL
:: txt :: John Pilger ::
:: trdç :: Mariana Bercht Ruy ::
Uma noite dessas, assisti ao 1984, de George Orwell, interpretado no teatro, em Londres. Apesar de clamar por uma interpretação contemporânea, o alerta de Orwell sobre o futuro foi apresentado como algo de época: remoto, pouco ameaçador , quase tranquilizador. Foi como se Edward Snowden não tivesse revelado nada, o Grande Irmão não fosse um bisbilhoteiro digital e o próprio Orwell nunca tivesse dito “ninguém precisa viver em um país totalitário para ser corrompido pelo totalitarismo”.
Aclamada pela crítica, a hábil produção foi um sinal de nossos tempos, políticos e culturais. Quando as luzes acenderam, as pessoas já estavam de saída. Pareciam indiferentes, ou talvez outras distrações as atraíssem. “Que confusão”, disse uma jovem, ao ligar seu celular.
À medida que sociedades avançadas vão sendo despolitizadas, as mudanças são tão súbitas quanto espetaculares. No discurso cotidiano, a fala política está de ponta cabeça, como Orwell profetizou em 1984. “Democracia” transformou-se em um aparato retórico. Paz é “guerra permanente”. “Global” é imperial. O conceito, uma vez esperançoso, de “reforma” agora significa regressão, e mesmo destruição. “Austeridade” é a imposição do capitalismo extremo aos pobres e a benção da socialização das perdas para os ricos: um engenhoso sistema no qual a maioria paga as contas da minoria.
Nas artes, a hostilidade a quem diz verdades políticas é um artefato da fé burguesa. “O período vermelho de Picasso e por que política não faz boa arte”, diz uma manchete do Observer. Considere isso em um jornal que promoveu o banho de sangue no Iraque como uma cruzada liberal. A vida de Picasso, de oposição ao fascismo, é apenas uma nota de rodapé, assim como o radicalismo de Orwell desbotou do prêmio que leva seu nome.
Alguns anos atrás, Terry Eagleton, então professor de Literatura Inglesa na Universidade de Manchester, avaliou que “pela primeira vez em dois séculos, não há nenhum poeta, dramaturgo ou romancista eminente inglês preparado para questionar os alicerces do modo de vida ocidental” Nenhum Shelley fala pelos pobres, ou Blake pelos sonhos utópicos; nenhum Byron condena a corrupção da classe dominante, nenhum Thomas Carlyle ou John Ruskin revela o desastre moral do capitalismo. William Morris, Oscar Wilde, H. G. Wells, George Bernard Shaw, nenhum tem equivalentes hoje. Harold Pinter foi o último a erguer sua voz. Entre as insistentes vozes dos consumidores de feminismo, nenhuma ecoa Virginia Woolf, que descreveu “ as artes de dominar outras pessoas… de mandar, de matar, de adquirir terra e capital”.
No National Theatre, uma nova peça, Great Britain, satiriza o escândalo da vigilância telefônica que levou a julgamento e condenou jornalistas, incluindo um antigo editor do News of the World, de Rupert Murdoch . Descrita como uma “farsa com dentes [que] põe toda a cultura incestuosa [midiática] na berlinda e a sujeita ao ridículo impiedoso”, a peça tem como alvos os “abençoadamente engraçados” personagens dos tabloides britânicos. Isso é muito bom, e também muito familiar. O que dizer da mídia não sensacionalista que se considera honrada e digna de crédito, mas desempenha um papel paralelo como arma de Estado e do poder corporativo, como na promoção da guerra ilegal?
O inquérito Leveson sobre vigilância telefônica permitiu ver de relance estes fatos impronunciáveis. Tony Blair dirigia-se ao público , reclamando ao Seu Senhor sobre o assédio dos tabloides à sua mulher, quando foi interrompido por uma voz da plateia. David Lawley-Wakelin, um cineasta, demandava a prisão de Blair por crimes de guerra. Houve uma grande pausa: o choque da verdade. Lorde Leveson ficou em pé em um salto, mandou expulsar o contador de verdades e pediu desculpas ao criminoso de guerra. Lawley-Wakelin foi processado; Blair ficou livre.
Os cúmplices permanentes de Blair são mais respeitáveis que grampeadores de telefone. Quando a apresentadora de artes da BBC, Kirsty Wark, entrevistou-o no décimo aniversário da invasão ao Iraque, ela o presenteou com um momento com o qual ele só poderia sonhar. Permitiu-lhe lamentar sua “difícil” decisão no Iraque, ao invés de chamá-lo a prestar contas sobre o seu crime épico. Isso fez lembrar a procissão de jornalistas da BBC, que, em 2003, declararam que Blair poderia se sentir “vingado” e o subsequente seriado da BBC, “The Blair Years”, para o qual David Aaronovitch foi escolhido como escritor, apresentador e entrevistador. Um bate-pau de Murdoch que fez campanha em favor dos ataques militares ao Iraque, Líbia e Síria, Aaronovitch soube bajular com esperteza.
Desde a invasão do Iraque – exemplo dum ato de agressão não provocada, algo que o procurador de Nuremberg, Robert Jackson, chamou de ”o supremo crime internacional, que diferencia-se dos outros crimes de guerra por conter acumulado em si todo o mal” – Blair e seu porta-voz e principal cúmplice, Alastair Campbell, têm recebido espaços generosos no The Guardian para reabilitar suas reputações. Descrito como uma “estrela” de partidos trabalhistas, Campbell buscou a simpatia de seus leitores por sua depressão e exibiu seus interesses, embora escondesse seu atual – de conselheiro, junto com Blair, da tirania militar egípcia.
Enquanto o Iraque vai sendo desmembrado como consequência da invasão de Blair e de Bush, uma manchete do Guardian declara: “Derrubar Saddam estava certo, mas fizemos isso muito cedo”. Isso coincide com um proeminente artigo de 13 de Junho, escrito por um antigo funcionário de Blair, John McTernan, que também serviu ao ditador iraquiano instalado pela CIA, Iyad Allawi. Ao falar da invasão repetida a um país que seu antigo mestre havia ajudado a destruir, McTernan não faz nenhuma referência às mortes de pelo menos 700 mil pessoas, à fuga de quatro milhões de refugiados e ao tumulto sectário de uma nação outrora orgulhosa da sua tolerância comum.
“Blair encarna a corrupção e a guerra”, escreveu o colunista radical do Gardian, Seumas Milne, em um artigo espirituoso em 3 de Julho. No comércio, isso é conhecido como “balanço”. No dia seguinte, o jornal publicou um anúncio de página inteira de um bombardeiro invisível norte-americano. Na imagem ameaçadora do avião, estavam as palavras ”O F-35. ÓTIMO para a Grã-Bretanha”. Essa outra encarnação da “corrupção e da guerra” vai custar aos contribuintes britânicos 2,1 bilhões de dólares, e seus modelos antecessores têm massacrado gente pelo mundo em desenvolvimento.
Em uma vila no Afeganistão, habitada pelos mais pobres dentre os pobres, filmei Orifa, ajoelhada no túmulo de seu marido, Gul Ahmed, um tecelão de tapetes, e de sete outros membros da sua família, incluindo seis filhos e duas crianças que foram mortas na casa adjacente. Uma bomba de “precisão” de mais de duzentos quilos caiu diretamente na sua casa de lama, pedras e palha, deixando uma cratera de 15 metros de largura. A Lockheed Martin,fabricante do avião, teve lugar de honra na propaganda do The Guardian.
A antiga secretária de Estado e aspirante a Presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton, esteve recentemente no quadro da BBC “Hora das Mulheres” [“Women's Hour”], a quintessência da respeitabilidade da mídia. A apresentadora, Jenni Murray, apresentou Clinton como um farol das conquistas femininas. Ela não lembrou seus ouvintes sobre a mistificação de Clinton, segundo a qul o Afeganistão foi invadido para “liberar” mulheres como Orifa. Ela não perguntou nada a ex-secretária sobre a campanha de terror, conduzida por seu governo, usando drones, para matar mulheres, homens e crianças. Não houve menção à ameaça vã de Clinton, durante sua campanha para ser a primeira presidente mulher, de “eliminar” o Irã, e nada sobre o seu apoio à vigilância maciça e ilegal sobre os cidadãos e a perseguição a quem a denuncia.
Ah, sim – Murray fez uma pergunta indiscreta. Clinton perdoou Monica Lewinsky por ter um caso com seu marido? “O perdão é uma escolha”, disse Clinton, “para mim, foi certamente a melhor escolha ”. Isso fez lembrar a década de 90 e os anos consumidos pelo “escândalo” Lewinsky. O Presidente Bill Clinton estava, então, invadindo o Haiti e bombardeando os Balcãs, a África e o Iraque. Ele também estava destruindo a vida de crianças iraquianas; a Unicef reportou que as mortes de meio milhão de crianças iraquianas com menos de cinco anos foi resultado de um embargo liderado pelos EUA e a Grã-Bretanha.
As crianças não eram pessoas para a mídia, assim como as vítimas de Hillary Clinton nas invasões que ela apoiou e promoveu – Afeganistão, Iraque, Iêmen, Somália – não são pessoas para a mídia. Murray não fez referências a elas. Uma fotografia dela e da sua distinta convidada, sorridentes, aparece no site da BBC.
Na política, assim como no jornalismo e nas artes, parece que a dissidência, antes tolerada no “mainstream”, voltou a ser uma dissidência: um submundo metafórico. Quando comecei uma carreira na imprensa britânica, nos anos 60, era aceitável criticar o poder ocidental como uma força voraz. Leia os festejados relatos de James Cameron sobre a explosão da bomba de hidrogênio no Atol de Bikini, a guerra bárbara na Coreia e o bombardeio americano no Vietnã do Norte. A grande ilusão de hoje é sobre uma suposta Era da Informação quando, na verdade, vivemos em uma Era da Mídia, na qual a incessante propaganda corporativa é insidiosa, contagiosa, efetiva e liberal.
Em seu ensaio “Sobre a Liberdade” [“On Liberty”], de 1859, ao qual os liberais modernos prestam homenagem, John Stuart Mill escreveu: “Despotismo é um modo legítimo de governo no trato com bárbaros, desde que o fim seja melhorá-los, e tendo os meios justificados pelo cumprimento do objetivo”. Os “bárbaros” eram grandes setores da humanidade de quem era exigida “obediência implícita”. “É um mito bom e conveniente que os liberais são promotores da paz e os conservadores são os fomentadores da guerra”, escreveu o historiador Hywel Williams em 2001, “mas o imperialismo da veia liberal talvez seja mais perigoso, por causa da sua natureza aberta: sua convicção de que representa uma forma de vida superior”. Ele tinha em mente um discurso de Blair, em que o então primeiro ministro prometeu “reorganizar o mundo ao redor de nós” de acordo com os seus “valores morais”.
Richard Falk, respeitada autoridade em lei internacional e Relator Especial da ONU na Palestina, uma vez descreveu uma “tela moral e legal hipócrita, de via única, com imagens positivas de valores ocidentais e da inocência retratada como sob ameaça, que valida uma campanha de violência política irrestrita”. Isso é “tão amplamente aceito que é virtualmente incontestável.”
Posse e proteção recompensam os que se submetem. Na Rádio 4 da BBC, Razia Igbal entrevistou Toni Morrison, a afro-americana laureada pelo Nobel. Morrison se perguntava por que as pessoas estavam “tão bravas” com o Barack Obama, que era “legal” e desejava construir uma “economia e assistência médica fortes”. Morrison estava orgulhosa de ter falado ao telefone com o seu herói, que leu um de seus livros e a convidou à cerimônia de sua posse .
Nem ela, nem sua entrevistadora, mencionaram as sete guerras de Obama, nem a sua campanha de terror com drones, na qual famílias inteiras foram executadas, assim como quem tentava socorrê-las ou orava por elas. O que parecia importar era que um homem negro e “de fala elegante” havia subido ao mais alto comando do poder. Em “Os Condenados da terra”, Frantz Fanon escreveu que a “missão histórica” dos colonizados era servir de “linha de transmissão” para aqueles que comandavam e oprimiam. Nos tempos atuais, o emprego da diferença étnica no poder e sistema de propaganda ocidentais é visto como essencial. Obama exemplifica isso, ainda que o gabinete de George W. Bush – sua panelinha belicosa – tenha sido o mais multirracial na história presidencial.
Quando a cidade iraquiana de Mosul caía sob o poder dos jihadistas do ISIS, Obama afirmou: “O povo americano faz grandes investimentos e sacrifícios para dar aos iraquianos a oportunidade de traçar um destino melhor”. Quão “legal” é essa mentira? Quão “elegantemente falado” foi o discurso de Obama na academia militar West Point, em 28 de maio? Quando fez seu discurso a respeito da “situação mundial”, na cerimônia de graduação daqueles que “vão exercer a liderança americana” ao redor do mundo, Obama disse: “Os Estados Unidos vão usar força militar, unilateralmente se necessário, quando os nossos interesses centrais demandarem isso. A opinião internacional importa, mas a América nunca vai pedir permissão…”
Ao repudiar o direito internacional e os direitos das nações independentes, o presidente norte-americano reivindica uma divindade baseada no poder da sua “nação indispensável”. Essa é uma mensagem familiar da impunidade imperial. Evocando o começo do fascismo na década de 30, Obama disse: “eu acredito na excepcionalidade americana com todas as fibras do meu ser”. O historiador Norman Pollack escreveu: “No lugar da marcha ao passo de ganso [típica do fascismo], coloque a militarização de toda a cultura, aparentemente mais inócua. E em vez do líder tonitruante, nós temos o projeto de reformista, alegre no seu trabalho, planejando e executando assassinatos, sorrindo todo o tempo’.
Em fevereiro, os EUA montaram um dos seus golpes “coloridos” contra o governo eleito na Ucrânia, explorando protestos genuínos contra a corrupção em Kiev. A secretária de Estado assistente de Obama, Victoria Nuland, escolheu pessoalmente o líder para um “governo interino”. Ela o apelidou “Yats”. O vice presidente Joe Biden foi a Kiev, assim como o diretor da CIA, John Brennan. As tropas de choque do seu putsch eram fascistas ucranianos.
Pela primeira vez desde 1945, um partido neo-nazista, abertamente anti-semita, controla setores fundamentais do poder público em uma capital europeia. Nenhum líder europeu ocidental condenou essa recuperação do fascismo na fronteira através da qual as tropas invasoras de Hitler tiraram milhões de vidas russas. Eles eram apoiados pelo Exército Insurgente Ucraniano (UPA), responsável pelo massacre de judeus e russos que chamam de “vermes”. O UPA é a inspiração histórica do atual Partido Svoboda e seus companheiros de viagem da direita. O lider do Svoboda, Oleh Tyanybok, pediu o expurgo da “máfia moscovita-judia” e “outra escória”, incluindo gays, feministas e pessoas de esquerda.
Desde o colapso da União Soviética, os Estados Unidos cercaram a Rússia de bases militares, aviões nucleares de guerra e mísseis, como parte do seu Projeto de Ampliação OTAN. Renegando uma promessa feita ao presidente soviético Mikhail Gorbachev em 1990, de que a não se expandiria “uma polegada para o leste”, a OTAN tem, com efeito, ocupado militarmente a Europa Oriental. No antigo Cáucaso Soviético, a expansão da OTAN é a maior mobilização militar desde a Segunda Guerra Mundial.
O Plano de Ação para Adesão à OTAN é o presente de Washington ao regime golpista em Kiev. Em Agosto, a “Operação Rapid Trident” vai colocar tropas norte-americanas e britânicas na fronteira russa da Ucrânia; e a “Sea Breeze” vai colocar navios de guerra estadunidenses tão próximos dos portos russos que poderão ser vistos a olho nu. Imagine a resposta, se esses atos de provocação e intimidação fossem executados nas fronteiras americanas.
Na recuperação da Crimeia – que Nikita Kruschev separou ilegalmente da Rússia, em 1954 – os russos defenderam-se como têm feito por quase um século. Mais de 90% da população da Crimeia votou favoravelmente a reincorporar o território à Rússia. A Crimeia é a base da Frota do Mar Negro e sua perda significaria vida ou morte para a Marinha Russa e um prêmio para a OTAN. Confundindo as forças em guerra em Washington e Kiev, Vladimir Putin retirou as tropas da fronteira ucraniana e pediu aos russos do leste da Ucrânia que abandonassem o separatismo.
De maneira orwelliana, isso foi invertido no Ocidente, para se converter na “ameaça Russa”. Hillary Clinton associou Putin a Hitler. Sem ironia, comentaristas de direita alemães disseram o mesmo. Na mídia, os neo-nazistas ucranianos são tratados com eufemismos: “nacionalistas”, ou “ultra-nacionalistas”. O que eles temem é que Putin esteja buscando uma saída diplomática e talvez tenha sucesso. Em 27 de junho, em resposta ao último ajuste de Putin – seu pedido ao parlamento russo para rescindir da lei que lhe deu poder para intervir pelos russos na Ucrânia – o secretário de Estado John Kerry emitiu mais um de seus ultimatos. A Rússia deveria “agir dentro das próximas horas, literalmente” para acabar com a revolta no leste da Ucrânia. Não obstante Kerry seja amplamente reconhecido como um bufão, o propósito sério desses “avisos” é conferir à Rússia o status de pária e suprimir as notícias da guerra do regime de Kiev ao seu próprio povo.
Um terço da população da Ucrânia é russo-falante e bilíngue. Buscam há muito tempo uma federação democrática que reflita a diversidade étnica da Ucrânia e que seja tanto autônoma quanto independente de Moscou. A maioria não é nem “separatista” nem “rebelde”, mas cidadãos que querem viver com segurança em seu país. O separatismo é uma reação aos ataques da junta de Kiev contra eles, que provocaram a fuga de cerca de 110 mil pessoas (segundo estimativa da ONU)pela fronteira, em direção à Rússia. Tipicamente, são mulheres e crianças traumatizadas.
Assim como as crianças vítimas do embargo ao Iraque, ou as mulheres e crianças “liberadas” do Afeganistão, aterrorizadas pelos senhores da guerra da CIA, esse povo étnico da Ucrânia não é gente para a mídia ocidental. Seu sofrimento e as atrocidades cometidas contra ele são minimizados ou suprimidos. Nenhum senso da escala da agressividade do regime é relatado nos meios de comunicação ocidental tradicionais. Isso não é sem precedentes. Relendo o magistral “A Primeira Vítima: o correspondente de guerra como herói, propagandista, e criador de mitos” de Phillip Knightley, pude renovar minha admiração por Morgan Philips Price, que, pelo Manchester Guardian, foi o único repórter ocidental a permanecer na Rússia durante a revolução de 1917 e reportar a verdade sobre a desastrosa invasão dos aliados ocidentais. Justo e corajoso, Philips Price sozinho sacudiu aquilo que Knightley chama de “silêncio negro” anti-russo no Ocidente.
Em 2 de maio, em Odessa, 41 ucranianos de etnia russa foram queimados vivos na sede da central sindical, com a polícia assistindo. Há um vídeo horrível como evidência. O líder da direita, Dmytro Yarosh, comemorou o massacre como “mais um dia brilhante na nossa história nacional”. Na mídia norte-americana e britânica, o ocorrido foi reportado como uma “tragédia obscura”, resultando de confrontos entre “nacionalistas” (neo-nazistas) e “separatistas” (pessoas coletando assinaturas para um referendo em favor de um sistema federativo para a Ucrânia. O New York Times enterrou a notícia, tendo considerado “propaganda russa” os alertas sobre as políticas fascistas e anti-semitas dos novos clientes de Washington. O Wall Street Journal responsabilizou as vítimas – “Incêndio Ucraniano Mortal Iniciado por Rebeldes, diz o governo”. Obama felicitou a junta pela sua “moderação”.
No dia 28 de junho, o Guardian dedicou a maior parte de uma página às declarações do “presidente” do regime de Kiev, o oligarca Petro Poroshenko. Novamente, a regra de inversão de Orwell aplicada. Não havia golpe; não havia guerra contra a minoria ucraniana; os russos eram culpados de tudo. “Nós queremos modernizar nosso país”, disse Poroshenko. “Nós queremos introduzir liberdade, democracia e valores europeus. Alguém não gosta disso. Alguém não gosta de nós por isso.”
Segundo seu próprio texto, o repórter do Guardian, Luke Harding, não questionou estas afirmações, nem mencionou o massacre de Odessa, os ataques do regime, por ar e canhões, contra áreas residenciais, a execução e sequestro de jornalistas, a explosão de um jornal de oposição e a ameaça de Poroshenko de “livrar a Ucrânia da sujeira e dos parasitas”. Os inimigos são os “rebeldes”, “militantes”, “isurgentes”, “terroristas” e lacaios do Kremlin. A história evoca os fantasmas do Vietnã, Chile, Timor Leste, África do Sul, Iraque; observe os mesmos rótulos. A Palestina é o sinal mais claro dessa manipulação imutável. Em 11 de julho, na sequência de mais um massacre israelense em Gaza, praticado com equipamento americano, em Gaza – 80 pessoas, incluindo seis crianças em uma família foram mortas –, um general israelense encreveu, no Guardian, um texto intitulado: “Uma demonstração de força necessária”.
Na década de 70, conheci Leni Riefenstahl e perguntei a ela a respeito dos seus filmes que glorificavam os nazistas. Usando técnicas revolucionárias de luz e câmera, ela produziu um documentário que hipnotizou os alemães; era o seu “O Triunfo da Vontade” que, como se sabe, lançou o feitiço de Hitler. Perguntei a ela sobre a propaganda nas sociedades que se consideram superiores. Ela respondeu que as “mensagens” nos seus filmes eram dependentes não das “ordens de cima”, mas de um “vazio submisso” na população alemã. “Isso inclui a burguesia liberal e educada?” perguntei. “Todos,” ela respondeu, “e, é claro, a intelligentsia”.
terça-feira, 30 de setembro de 2014
[noé ae?!] 3ÉD+ NA BRASIL 2000
Querida pomba e prezado urubu, em meio à fauna da mata "atlândida" com seus jovens panamericanos que ouvem mais pop do que rock, impera o bicho Jabá. Mas isso vós conheceis muy bien, ipso facto.
Em contrapartida, temos ótimas rádios para se escuitar na internet como a Dinâmico FM, Rádio Elétrica, Mínima FM, etc, e uma que conheci hoje, a Rádio Brasil 2000, que terá a presença do duo barulhento, sujo, trinitrotoluênico 3éD+, contando sobre o disc novo, trovando, e apresentando 2 músicas novas, então gruda o teu escutador de vanerão (mais conhecido como ouvido) no altifalante, será amanhã (01/10) às 15h. Lembrando que os rapazes também estão no Soundcloud e Bandcamp.
Um salve pra Noé e um forte amplexo na bicharada!
Em contrapartida, temos ótimas rádios para se escuitar na internet como a Dinâmico FM, Rádio Elétrica, Mínima FM, etc, e uma que conheci hoje, a Rádio Brasil 2000, que terá a presença do duo barulhento, sujo, trinitrotoluênico 3éD+, contando sobre o disc novo, trovando, e apresentando 2 músicas novas, então gruda o teu escutador de vanerão (mais conhecido como ouvido) no altifalante, será amanhã (01/10) às 15h. Lembrando que os rapazes também estão no Soundcloud e Bandcamp.
Um salve pra Noé e um forte amplexo na bicharada!
quarta-feira, 10 de setembro de 2014
terça-feira, 9 de setembro de 2014
[copyleft] ROUBE ESTE FILME
:: per Baixa Cultura ::
O primeiro Roube Este Filme (no original, Steal this film), lançado em 2006 via arquivo torrent na própria página oficial do documentário, tem como ponto central a forma como entidades de lobby, como a MPAA, trabalharam sua influência sobre as autoridades na Suécia para causar um ataque ao Pirate Bay em maio de 2006, quando a empresa onde ficavam hospedados os servidores do site (o host) foi invadida por policiais e teve os seus computadores apreendidos.
O primeiro Roube Este Filme (no original, Steal this film), lançado em 2006 via arquivo torrent na própria página oficial do documentário, tem como ponto central a forma como entidades de lobby, como a MPAA, trabalharam sua influência sobre as autoridades na Suécia para causar um ataque ao Pirate Bay em maio de 2006, quando a empresa onde ficavam hospedados os servidores do site (o host) foi invadida por policiais e teve os seus computadores apreendidos.
Parte 1/4
Parte 2/4
Parte 3/4
Parte 4/4
sábado, 6 de setembro de 2014
[bolo'bolo] KODU
O kodu é a base agrícola da auto-suficiência e independência do bolo. O tipo de agricultura, a escolha do plantio e dos métodos são influenciados pela bagagem cultural de cada bolo. Um Vege-bolo se especializaria em vegetais, frutas, etc., em vez de criar gado. Um Islã-bolo nunca lidaria com porcos. Um Franco-bolo precisaria de um grande galinheiro, ervas frescas e muito queijo. Um Hash-bolo plantaria cannabis, um Bebum-bolo, malte e lúpulo (com uma destilaria no celeiro), um Ítalo-bolo precisaria de tomates, alho e orégano, um Macrô-bolo precisaria de arroz integral, tofu, misso, shoyu e seitan. Certos bolos dependeriam mais de trocas, por terem uma dieta muito diversificada. Outros, com uma cozinha mais monótona, poderiam contar quase que inteiramente consigo mesmos.
Agricultura faz parte da cultura geral de um bolo. Define a sua maneira de lidar com a natureza e a comida. Sua organização não pode ser descrita de modo geral. Podem haver bolos onde a agricultura apareça como um tipo de trabalho, porque outras ocupações, lá, seriam consideradas mais importantes. Mesmo nesse caso, o trabalho agrícola não traria limites graves à liberdade individual de cada ibu: seria dividido entre todos os membros do bolo. Isso talvez significasse um mês de trabalho agrícola por ano, ou 10 % do tempo ativo. Se a agricultura é um elemento central na identidade cultural de um bolo, não há problema nenhum: será um prazer. De qualquer forma, todo mundo tem que adquirir um pouco de conhecimento agrícola, mesmo os que não consideram isso crucial para sua identidade cultural, porque esta é a condição para a independência de qualquer bolo. Não existirão lojas de comida, nem supermercados, nem (infelizmente) pechinchas importadas de países chantageados economicamente. Também não haverá qualquer distribuição centralizada por um aparato de Estado (por exemplo, sob forma de racionamento). Os bolos realmente terão que contar consigo mesmos.¹
O kodu abole a separação entre produtores e consumidores no domínio mais importante da vida: a produção de comida. Mas kodu não é só isso, é o todo da relação do ibu com a natureza – ou seja, agricultura e natureza não podem ser compreendidas como duas noções distintas. A noção de natureza apareceu no mesmo momento em que perdemos nosso contato direto com ela, quando nos tornamos dependentes da agricultura, da economia e do Estado. Sem uma base agrícola para auto-suficiência, os ibus e bolos ficam praticamente expostos à chantagem – podem ter quantas garantias, direitos ou acordos quiserem, mas é tudo escrito no vento. O poder do Estado se baseia sobretudo no controle do abastecimento de comida. Somente com base num certo grau de autarquia os bolos podem participar de uma rede de trocas sem serem explorados.
Como todo bolo tem sua própria terra, a divisão entre rural e urbano não é mais tão pronunciada. O conflito de interesses entre produtores batalhando preços mais altos e consumidores exigindo comida barata não existe mais. Além disso, ninguém está interessado em desperdício, escassez artificial, deterioração, distribuição ruim ou obsolescência planejada de produtos agrícolas. Todos os ibus se interessam diretamente pela produção de comida boa e saudável, porque eles mesmos produzem e comem e são completamente responsáveis por sua própria assistência médica (ver bete). Cuidados com o solo, com os animais e consigo mesmos se tornam óbvios, já que cada bolo se interessa pela fertilidade a longo prazo e pela preservação dos recursos naturais.
O uso da terra ou de outros recursos e sua distribuição entre os bolos precisam ser cautelosamente discutidos e adaptados. Há um monte de soluções possíveis, conforme a situação. Para legítimos bolos rurais (agro-bolos) não tem problema, já que podem usar a terra adjacente. Para bolos urbanos seria útil ter canteirinhos em volta das casas, nos telhados, nos pátios, etc. Em torno da cidade poderia haver uma zona verde onde cada bolo tivesse uma área maior para vegetais, frutas, lagos de peixes, etc., ou seja, para produzir o que se precisa que seja fresco todos os dias. Essas plantações seriam alcançadas a pé ou de bicicleta em poucos minutos, e relativamente poucos produtos exigiriam transporte especial. A zona realmente agrícola, de grandes fazendas de mais de 80 hectares ou várias fazendas menores, poderia estar a uns 15 quilômetros da cidade-bolo. (Particularmente no caso de certas culturas que usam lagos, picos, vinhas, campos de caça, etc.) Essas bolo-fazendas se especializariam na produção em larga escala de comidas duráveis: cereais, inhames, feijões, soja, laticínios, carne, etc. O transporte se daria na escala das toneladas (de charrete, caminhão, barco, etc.). Para o kodu de cidades grandes, um sistema de três zonas poderia ser prático²:
Para facilitar o funcionamento do kodu, a despopulação de cidades com mais de 200.000 habitantes deve ser encorajada pelos bolos. Em certas áreas, isso poderia vir a dar na repopulação de aldeias desertas. Podem existir Agro-bolos puros, mas em geral o ibu não vai ter que escolher entre a vida rural e a urbana. As fazenda-bolos ou aldeias também têm a função de casas de campo, e ao mesmo tempo cada fazendeiro teria um bolo de casas na cidade. Com o sistema kodu o isolamento e a negligência cultural das regiões rurais poderiam ser compensados, de modo que o êxodo rural que hoje arruina o equilíbrio da maior parte do mundo seria paralisado e invertido. Os aspectos positivos da vida de fazenda podem ser combinados com o intenso estilo de vida urbano. As cidades se tornariam mais civilizadas, vivíveis, e os campos estariam protegidos contra a poluição vinda das auto-estradas, agroindústrias, etc. Nenhuma fazendeiro precisaria criar raízes e ser escravizado por suas vacas. Todo ser urbano teria uma casinha no campo, sem ficar confinado em colônias de férias ou hotéis monótonos.
¹A catástrofe atual e permanente da fome planetária é causada pelo fato de que a produção e a distribuição de alimentos não são controladas pelas populações locais. A fome não decorre de problemas de produção e sim do sistema econômico internacional. Mesmo nas condições atuais existem 3.000 calorias em grãos de cereais por dia para todo mundo, e adicionalmente a mesma quantidade em forma de carne, peixe, feijões, vegetais, leite, etc. O problema é que a grande massa de pobres não tem condições de comprar a comida (depois que suas bases de auto-suficiência foram destruídas).
A monocultura, a indústria agrícola de larga escala e a produção animal mecanizada parecem ser mais eficientes e produtivas, mas a longo prazo levam à erosão do solo e ao desperdício de energia, e usam para a produção de proteína animal muitos alimentos vegetais necessários à nutrição humana. A auto-suficiência local (junto com acordos de troca moderados) é possível em praticamente toda parte, e é também mais segura, já que trata a terra com mais cuidado. É óbvio que isso não significa simplesmente o retorno aos métodos tradicionais (que falharam em muitas regiões). Novas conquistas no campo dos métodos biodinâmicos e uma combinação intensa de muitos fatores (colheitas + animais, animais + produção de metano, plantios alternados, etc.) são completamente indispensáveis para um novo começo.
²Esse modelo de três zonas se apoia no trabalho da eco-urbanista alemã Merete Mattern. Uma zona agrícola de 15 quilômetros de largura poderia alimentar uma cidade do tamanho de Munich. Ela propõe a criação de duas zonas florestais (para garantir um microclima favorável) e um sistema intensivo de compostagem. Isso significa que a auto-suficiência agrícola também é possível em áreas densamente povoadas. Mas isso implicaria usar cada metro quadrado, deixando de ter espaços vazios, parques e áreas experimentais. Um sistema mais flexível de três zonas complementadas por fazendas seria mais prático, pois daria para combinar de maneira ótima a distância, a disponibilidade de produtos frescos e o ciclo das colheitas. (Você não vai plantar arroz no quintal ou cultivar salsinha fora da cidade...)
sexta-feira, 5 de setembro de 2014
segunda-feira, 18 de agosto de 2014
domingo, 17 de agosto de 2014
[a vida como ela noé] O HOMEM DA NOITE
:: txt :: Paulo Wainberg ::
Para homenagear Bogart resolvi abrir um bar temático. Após muito meditar, achei que o nome do bar que mais lembraria o grande ator era Humphrey’s e assim raciocinando inaugurei o estabelecimento numa região neutra da cidade cujo único problema era lugar para estacionar.
O bar temático foi um sucesso retumbante na noite da inauguração, graças aos convidados e à boca livre e, também, à frota de táxis que coloquei à disposição dos convidados, ida e volta.
O ambiente era sombrio, lembrando os filmes noir que o ator interpretou, especialmente aqueles em que contracenou com com Lauren Bacal, sua musa eterna e falecida recentemente de causa natural, isto é, de velhice.
Bem ao centro do bar instalei um piano elétrico que durante a noite inteira tocou As time Goes by e uma gravação que dizia, sempre que a música terminava: “Play it again, Sam”.
Do teto caiam, presas com arames, várias bolas redondas de metal para lembrar um filme em que ele era um comandante de destroyer, em plena guerra, que passava o tempo inteiro girando as bolas entre os dedos até enlouquecer e dar ordens absurdas, fazendo o navio enroscar-se na própria âncora.
O top da noite foi a entrada inesperada de um gordo barrigudo, de largos e negros bigodes, que não havia sido convidado, ninguém sabia quem era, que comeu, bebeu todas e, é o que dizem, divertiu-se muito passando a mão na bunda das convidadas, algumas de primeira, outras já caindo, para baixo e para o esquecimento.
A grande confusão aconteceu às cinco da matina, quando um sujeito, diretor de uma multinacional de cigarros acendeu um charuto e baforou na cara de Chiquita Lima e Cordeiro Silva, namorada do colunável Hans Hans de Hans Terceiro, que foi tomar satisfação e tomou um soco na cara.
A briga generalizou-se e quando a Brigada chegou, não restava Humphrey sobre Bogart.
Apesar de tudo, a inauguração foi um sucesso, ninguém no hospital, ninguém preso por consumo de drogas, ninguém foi de ninguém e um acordo com o delegado me custou caro, mas ele aceitou parcelamento.
Nos dias e semanas seguintes, o Humphrey’s foi afundando, afundando, ninguém entrava lá, só pedestres que, como se sabe, consomem pouco e ainda exigem regalias.
Foi quando o gordo barrigudo, de largos bigodes apareceu e me propôs comprar o ponto.
Aceitei, embora o preço dele fosse um tanto alto, mas paguei assim mesmo, louco para me livrar da coisa.
Semana passada passei por lá e vi que onde existia o Humphrey’s agora havia uma sapataria. Um grande cartaz colorido anunciava o nome da nova loja:
AO CALO.
E foi assim que encerrei minhas atividades como homem da noite.
Para homenagear Bogart resolvi abrir um bar temático. Após muito meditar, achei que o nome do bar que mais lembraria o grande ator era Humphrey’s e assim raciocinando inaugurei o estabelecimento numa região neutra da cidade cujo único problema era lugar para estacionar.
O bar temático foi um sucesso retumbante na noite da inauguração, graças aos convidados e à boca livre e, também, à frota de táxis que coloquei à disposição dos convidados, ida e volta.
O ambiente era sombrio, lembrando os filmes noir que o ator interpretou, especialmente aqueles em que contracenou com com Lauren Bacal, sua musa eterna e falecida recentemente de causa natural, isto é, de velhice.
Bem ao centro do bar instalei um piano elétrico que durante a noite inteira tocou As time Goes by e uma gravação que dizia, sempre que a música terminava: “Play it again, Sam”.
Do teto caiam, presas com arames, várias bolas redondas de metal para lembrar um filme em que ele era um comandante de destroyer, em plena guerra, que passava o tempo inteiro girando as bolas entre os dedos até enlouquecer e dar ordens absurdas, fazendo o navio enroscar-se na própria âncora.
O top da noite foi a entrada inesperada de um gordo barrigudo, de largos e negros bigodes, que não havia sido convidado, ninguém sabia quem era, que comeu, bebeu todas e, é o que dizem, divertiu-se muito passando a mão na bunda das convidadas, algumas de primeira, outras já caindo, para baixo e para o esquecimento.
A grande confusão aconteceu às cinco da matina, quando um sujeito, diretor de uma multinacional de cigarros acendeu um charuto e baforou na cara de Chiquita Lima e Cordeiro Silva, namorada do colunável Hans Hans de Hans Terceiro, que foi tomar satisfação e tomou um soco na cara.
A briga generalizou-se e quando a Brigada chegou, não restava Humphrey sobre Bogart.
Apesar de tudo, a inauguração foi um sucesso, ninguém no hospital, ninguém preso por consumo de drogas, ninguém foi de ninguém e um acordo com o delegado me custou caro, mas ele aceitou parcelamento.
Nos dias e semanas seguintes, o Humphrey’s foi afundando, afundando, ninguém entrava lá, só pedestres que, como se sabe, consomem pouco e ainda exigem regalias.
Foi quando o gordo barrigudo, de largos bigodes apareceu e me propôs comprar o ponto.
Aceitei, embora o preço dele fosse um tanto alto, mas paguei assim mesmo, louco para me livrar da coisa.
Semana passada passei por lá e vi que onde existia o Humphrey’s agora havia uma sapataria. Um grande cartaz colorido anunciava o nome da nova loja:
AO CALO.
E foi assim que encerrei minhas atividades como homem da noite.
sexta-feira, 15 de agosto de 2014
[nem te conto] BALA
:: txt :: Bruno Azevêdo ::
Nunca levei um tiro, mas a bala, seu barulho, seu formato de pica necrosada, o barulho que ela faz ao sair e o estrago ao entrar fazem parte do meu imaginário e da minha formação como fazem o amor romântico e as boas prendas para a maioria das meninas.
A bala é uma coisa linda, e aprendi a admirar seu poder de decisão, e sua distância. Afinal, era a terra da pexeira e um corte fundo, uma xuxada ou uma queda (e quedas me quebraram dois braços e uma perna) seriam causas mais prováveis de parar no hospital Djalma Marques, o Socorrão.
Eu não pensava na bala como uma possibilidade concreta, mas fazia shurikens com tampas amassadas de refrigerante e atirava loucamente no guarda-roupas de casa, e imaginava lasers e phasers de cabos de vassoura e pedaços de ripa.
Não tinha a bala como uma possibilidade, nem Rambo defumando as costelas pra cauterizar um balaço tinha concretude. Era o fogo ali que amedrontava, não a bala, que essa, no mundo maniqueísta da ficção “pra macho” que eu consumi avidamente sempre pega de raspão nos homens de bem. No Tex não deve ter pego nem assim.
Já ouvi tanto barulho de tiro virtual e já atirei tanto em videogames que me vejo incapaz de distinguir, no meio dos barulhos do mundo, o que deve ser efetivamente um estampido de pólvora comprimida -- nos gibis é sempre bang, mas bala de verdade não é onomatopeia --; foi mal, Black Alien, mas é assim pra mim.
Não conhecia ninguém que morreu de tiro até muito tarde na vida, e a experiência da bala só veio mesmo recentemente, pelo processo imaginativo da escrita -- matar em papel é bem real pra mim -- e pela percepção do tiro profissionalizado enquanto tradição local, a bala construindo um arremedo de lugar, costurando como a Thompson do Dick Tracy do MegaDrive. A bala começa a se aproximar, a ter cheiro, nome, rg, afetividade.
Até que me apontaram um trezoitão.
Achei engraçado da primeira vez, e pensei, enquanto o sujeito subia a ladeira com algo que agora ela dele por direito, dizendo que me mataria se eu fosse atrás dele: “tem gente que leva as coisas muito à sério”. Nas vezes seguintes já não teve tanta graça, porque você se toca que é só aquele cara atirar e pronto, algo muito especial pode acontecer; vá lá que tem uma curiosidade da experiência da violência, que chega nessa idade como a experiência do sexo era urgente na puberdade, “como é que é isso de verdade?”, ao menos seria bom pra me lembrar, como disse o John, que todo esse sangue que vejo por aí, está por aqui também.
Mas não a curiosidade da experiência domestica da violência, que há mil bandêids espalhados pela casa. E se um desses caras tivesse atirado? A bala saindo do papel, da tela, da caixa de som. Será que a dor impede ou é parte da experiência? No que se pensa? A consciência posta num ponto fudido da anatomia ou expandida através dele? Penso que gostaria de ler relatos de gente que levou tiro, mas isso é também uma traição, o tiro de um não deve servir pra outro.
Daí você vira um Owen Sack, do Dashiell Hammet, um sujeito capaz de formular e reformular a própria vida pela possibilidade de ser alvejado. Era a bala que dizia pronde Owen ia e o que ele ia fazer. O medo de tiro era o medo mesmo de viver, de experimentar seu tempo, e qualquer desentendimento pra ele era motivo pra mudar de cidade.
Até que lhe meteram um balaço e ele alcançou algum tipo de momento crucial.
O desejo de não levar virou a punção de atirar. “Preciso dar muito tiro”, ele emendava, muito tiro, muito tiro, que se as balas voam como borboletas, vá lá, não adianta de muita coisa de encazular.
A se você engole essa fácil é como se engolisse uma bala. Volta-se prum tipo de "ficção de macho" com patrocínio estatal.
A pergunta já não é quem vai levar a próxima bala, mas quem vai começar a atirar.
quinta-feira, 14 de agosto de 2014
domingo, 3 de agosto de 2014
[nem te conto] TER DE ACREDITAR
:: txt :: Carlos Castañeda ::
- Lembra-se da história que você me contou uma vez a respeito de uma amiga sua e os gatos dela? - perguntou, com displicência.
Ele olhou para o céu e encostou-se no banco, esticando as pernas. Pôs as mãos atrás da cabeça e contraiu os músculos do corpo todo. Como acontece sempre, seus ossos estalaram alto.
Ele se referia a uma história que eu lhe contara um dia sobre uma amiga minha que encontrou dois gatinhos quase mortos dentro de uma secadeira, numa lavanderia automática. Ela os reanimou, e, com muitos cuidados e ótima alimentação, criou-os até eles virarem dois gatos gigantescos, um preto e um avermelhado.
Dois anos depois ela vendeu a casa. Como não podia levar os gatos e não conseguisse encontrar outro lar para eles, nas circunstâncias só o que podia fazer era levá-los para uma clínica veterinária e sacrificá-los.
Ajudei-a a levá-los. Os gatos nunca tinham entrado num carro; da procurou acalmá-los, mas eles a arranharam e morderam, especialmente o avermelhado, que ela chamava de Max. Quando afinal chegamos à clínica, ela levou primeiro o gato preto; pegando-o no colo, e sem dizer uma palavra, ela saltou do carro. O gato brincou com ela, dando-lhe patadas delicadas enquanto ela abria a porta de vidro para entrar na clínica.
Olhei para Max; ele estava sentado no banco de trás. O movimento de minha cabeça deve tê-lo assustado, pois ele pulou para debaixo do assento do motorista. Fiz o assento deslizar para trás. Não queria pôr a mão embaixo, de medo que o gato me mordesse ou arranhasse minha mão. O gato estava deitado dentro de uma depressão no fundo do carro. Parecia muito agitado, sua respiração, ofegante. Ele olhou para mim; nossos olhos se encontraram e fui dominado por uma sensação de opressão. Alguma coisa se apoderou de meu corpo, uma forma de apreensão, desespero, ou talvez constrangimento por tomar parte no que estava ocorrendo.
Senti uma necessidade de explicar a Max que a decisão fora de minha amiga, e que eu só a estava ajudando. O gato ficou me olhando como se entendesse minhas palavras.
Olhei para ver se ela já vinha de volta. Eu a via através da porta de vidro. Ela estava falando com a recepcionista. Meu corpo teve um choque estranho e automaticamente abri a porta do carro.
"Corra, Max, corra!", disse eu ao gato.
Ele saltou para fora do carro e deu uma corrida para o outro lado da rua, o corpo rente ao chão, como um autêntico felino. Aquele lado da rua estava vazio; não havia carros parados e eu via Max correndo, junto à sarjeta. Ele chegou à esquina de uma grande avenida e depois se meteu por um cano de esgoto.
Minha amiga voltou. Contei-lhe que Max tinha fugido. Ela entrou no carro e nós fomos embora sem dizer uma palavras.
Nos meses que se seguiram, o incidente passou a ser um símbolo para mim. Imaginei, ou talvez tivesse visto, um brilho estranho nos olhos de Max quando olhou para mim antes de saltar do carro. E acreditei que por um momento aquele bichinho de estimação, castrado e obeso e inútil, tornou-se um gato.
Eu disse a Dom Juan que estava convencido de que, quando Max correu para o outro lado da rua e mergulhou no esgoto, o seu "espirito de gato" estava impecável, e que talvez em nenhum outro momento de sua vida o seu "gatismo" fora tão evidente. A impressão que o incidente deixou em mim foi inesquecível.
Contei a história a todos os meus amigos; depois de contá-la e recontá-la, minha identificação com o gato tornou-se muito agradável.
Achei que eu era como Max, mimado demais domesticado em muitos sentidos, e no entanto não podia deixar de pensar que havia sempre a possibilidade de um momento em que o espírito do homem poderia apossar-se de todo o meu ser, assim como o espírito de "gatismo" se apossou do corpo flácido e inútil de Max.
Dom Juan gostara da história e tecera alguns comentários sobre ela. Dissera que não era assim tão difícil deixar que o espírito do homem fluísse e se apossasse; mas que mantê-lo era coisa que somente um guerreiro poderia fazer.
- O que é que tem a história dos gatos? - perguntei.
- Você me disse que acreditava que se está arriscando, como Max - disse ele.
- Acredito nisso, sim.
- O que estive tentando dizer-lhe é que, como guerreiro, você não pode simplesmente acreditar nisso e deixar a coisa correr. Com Max, ter de acreditar significa que você aceita o fato de que a fuga dele pode ter sido uma explosão inútil. Ele pode ter saltado para o esgoto e morrido instantaneamente. Pode ter-se afogado ou morrido de fome, ou pode ter sido devorado pelos ratos. Um guerreiro considera todas essas possibilidades e depois resolve acreditar de acordo com suas predileções íntimas. Como guerreiro, você tem de acreditar que Max conseguiu salvar-se, que ele não apenas fugiu, mas que manteve seu poder. Você tem de acreditar nisso. Digamos que sem essa crença você nada tem.
A distinção tornou-se muito clara. Achei que eu realmente tinha preferido acreditar que Max sobrevivera, sabendo que ele estava levando a desvantagem de uma vida inteira de mimos e bons tratos.
- Acreditar é fácil - continuou Dom Juan. - Ter de acreditar é outra coisa.
Neste caso, por exemplo, o poder lhe deu uma lição esplêndida, mas você preferiu só usar a metade dela. Se você tem de acreditar, porém, tem de utilizar o fato todo.
- Entendo o que quer dizer - disse eu.
Meu espírito estava num estado de lucidez e achei que estava entendendo os conceitos dele sem esforço algum.
- Acho que você ainda não entendeu - disse, quase cochichando.
Ele me ficou fitando. Sustentei seu olhar por um momento.
- E o outro gato? - perguntou ele.
- Hem? O outro gato? - repeti, involuntariamente.
Eu esquecera a respeito. O meu símbolo girava em tomo de Max. O outro gato não me interessava.
- Mas interessa, sim! - exclamou Dom Juan, quando exprimi meus pensamentos. - Ter de acreditar significa que você também tem de explicar o outro gato. O que saiu lambendo as mãos que o levavam a sua execução. Aquele foi o gato que se dirigiu para a morte, confiante, cheio de seus conceitos de gato. Você acha que se parece com Max, de modo que já se esqueceu do outro gato. Nem sabe o nome dele. Ter de acreditar significa que você tem de considerar tudo, e antes de resolver que você se parece com Max, você deve considerar que pode parecer com o outro gato; em vez de fugir para salvar a vida e se arriscar, pode estar caminhando feliz para seu destino, cheio de seus conceitos.
- Lembra-se da história que você me contou uma vez a respeito de uma amiga sua e os gatos dela? - perguntou, com displicência.
Ele olhou para o céu e encostou-se no banco, esticando as pernas. Pôs as mãos atrás da cabeça e contraiu os músculos do corpo todo. Como acontece sempre, seus ossos estalaram alto.
Ele se referia a uma história que eu lhe contara um dia sobre uma amiga minha que encontrou dois gatinhos quase mortos dentro de uma secadeira, numa lavanderia automática. Ela os reanimou, e, com muitos cuidados e ótima alimentação, criou-os até eles virarem dois gatos gigantescos, um preto e um avermelhado.
Dois anos depois ela vendeu a casa. Como não podia levar os gatos e não conseguisse encontrar outro lar para eles, nas circunstâncias só o que podia fazer era levá-los para uma clínica veterinária e sacrificá-los.
Ajudei-a a levá-los. Os gatos nunca tinham entrado num carro; da procurou acalmá-los, mas eles a arranharam e morderam, especialmente o avermelhado, que ela chamava de Max. Quando afinal chegamos à clínica, ela levou primeiro o gato preto; pegando-o no colo, e sem dizer uma palavra, ela saltou do carro. O gato brincou com ela, dando-lhe patadas delicadas enquanto ela abria a porta de vidro para entrar na clínica.
Olhei para Max; ele estava sentado no banco de trás. O movimento de minha cabeça deve tê-lo assustado, pois ele pulou para debaixo do assento do motorista. Fiz o assento deslizar para trás. Não queria pôr a mão embaixo, de medo que o gato me mordesse ou arranhasse minha mão. O gato estava deitado dentro de uma depressão no fundo do carro. Parecia muito agitado, sua respiração, ofegante. Ele olhou para mim; nossos olhos se encontraram e fui dominado por uma sensação de opressão. Alguma coisa se apoderou de meu corpo, uma forma de apreensão, desespero, ou talvez constrangimento por tomar parte no que estava ocorrendo.
Senti uma necessidade de explicar a Max que a decisão fora de minha amiga, e que eu só a estava ajudando. O gato ficou me olhando como se entendesse minhas palavras.
Olhei para ver se ela já vinha de volta. Eu a via através da porta de vidro. Ela estava falando com a recepcionista. Meu corpo teve um choque estranho e automaticamente abri a porta do carro.
"Corra, Max, corra!", disse eu ao gato.
Ele saltou para fora do carro e deu uma corrida para o outro lado da rua, o corpo rente ao chão, como um autêntico felino. Aquele lado da rua estava vazio; não havia carros parados e eu via Max correndo, junto à sarjeta. Ele chegou à esquina de uma grande avenida e depois se meteu por um cano de esgoto.
Minha amiga voltou. Contei-lhe que Max tinha fugido. Ela entrou no carro e nós fomos embora sem dizer uma palavras.
Nos meses que se seguiram, o incidente passou a ser um símbolo para mim. Imaginei, ou talvez tivesse visto, um brilho estranho nos olhos de Max quando olhou para mim antes de saltar do carro. E acreditei que por um momento aquele bichinho de estimação, castrado e obeso e inútil, tornou-se um gato.
Eu disse a Dom Juan que estava convencido de que, quando Max correu para o outro lado da rua e mergulhou no esgoto, o seu "espirito de gato" estava impecável, e que talvez em nenhum outro momento de sua vida o seu "gatismo" fora tão evidente. A impressão que o incidente deixou em mim foi inesquecível.
Contei a história a todos os meus amigos; depois de contá-la e recontá-la, minha identificação com o gato tornou-se muito agradável.
Achei que eu era como Max, mimado demais domesticado em muitos sentidos, e no entanto não podia deixar de pensar que havia sempre a possibilidade de um momento em que o espírito do homem poderia apossar-se de todo o meu ser, assim como o espírito de "gatismo" se apossou do corpo flácido e inútil de Max.
Dom Juan gostara da história e tecera alguns comentários sobre ela. Dissera que não era assim tão difícil deixar que o espírito do homem fluísse e se apossasse; mas que mantê-lo era coisa que somente um guerreiro poderia fazer.
- O que é que tem a história dos gatos? - perguntei.
- Você me disse que acreditava que se está arriscando, como Max - disse ele.
- Acredito nisso, sim.
- O que estive tentando dizer-lhe é que, como guerreiro, você não pode simplesmente acreditar nisso e deixar a coisa correr. Com Max, ter de acreditar significa que você aceita o fato de que a fuga dele pode ter sido uma explosão inútil. Ele pode ter saltado para o esgoto e morrido instantaneamente. Pode ter-se afogado ou morrido de fome, ou pode ter sido devorado pelos ratos. Um guerreiro considera todas essas possibilidades e depois resolve acreditar de acordo com suas predileções íntimas. Como guerreiro, você tem de acreditar que Max conseguiu salvar-se, que ele não apenas fugiu, mas que manteve seu poder. Você tem de acreditar nisso. Digamos que sem essa crença você nada tem.
A distinção tornou-se muito clara. Achei que eu realmente tinha preferido acreditar que Max sobrevivera, sabendo que ele estava levando a desvantagem de uma vida inteira de mimos e bons tratos.
- Acreditar é fácil - continuou Dom Juan. - Ter de acreditar é outra coisa.
Neste caso, por exemplo, o poder lhe deu uma lição esplêndida, mas você preferiu só usar a metade dela. Se você tem de acreditar, porém, tem de utilizar o fato todo.
- Entendo o que quer dizer - disse eu.
Meu espírito estava num estado de lucidez e achei que estava entendendo os conceitos dele sem esforço algum.
- Acho que você ainda não entendeu - disse, quase cochichando.
Ele me ficou fitando. Sustentei seu olhar por um momento.
- E o outro gato? - perguntou ele.
- Hem? O outro gato? - repeti, involuntariamente.
Eu esquecera a respeito. O meu símbolo girava em tomo de Max. O outro gato não me interessava.
- Mas interessa, sim! - exclamou Dom Juan, quando exprimi meus pensamentos. - Ter de acreditar significa que você também tem de explicar o outro gato. O que saiu lambendo as mãos que o levavam a sua execução. Aquele foi o gato que se dirigiu para a morte, confiante, cheio de seus conceitos de gato. Você acha que se parece com Max, de modo que já se esqueceu do outro gato. Nem sabe o nome dele. Ter de acreditar significa que você tem de considerar tudo, e antes de resolver que você se parece com Max, você deve considerar que pode parecer com o outro gato; em vez de fugir para salvar a vida e se arriscar, pode estar caminhando feliz para seu destino, cheio de seus conceitos.
quarta-feira, 23 de julho de 2014
[noéditorial] DA CULTURA POPULAR CONTEMPORÂNEA
“É como aquela velha história de que cachorro gosta só de osso. Ofereça um filé ao cão para ver o que ele irá preferir. Ao povo, não tem se dado o direito de entrar em contato com o filé”.
Ariano Vilar Suassuna (João Pessoa, 16 de junho de 1927 — Recife, 23 de julho de 2014)
quarta-feira, 16 de julho de 2014
[nem te conto] RUA TRISTÃO, Nº 7
:: txt :: Valter F. Santos ::
Havia uma casa abandonada que sempre me chamou bastante atenção. Era cercada por uma grade verde e rodeada de mato. Ela tinha as paredes brancas com janelas e portas da mesma cor do gradeado. Curiosamente, nunca teve uma viva alma que a habitasse por muito tempo.
Quando eu era pequeno e passava por ela, delirava imaginando mil coisas que poderiam acontecer de dia e de noite naquele lugar. Era divertido. Certa vez, imaginei cobras, macacos e zebras tocando violino sob a regência de um caboclo da mata, que assumia a função de maestro. Loucura total. E naquela época nem ocorria na minha cabeça que um dia eu beberia cafés, fumaria cigarros e tomaria algumas garrafas de cerveja enquanto uma música seria executada no jukebox do boteco da esquina. Bons tempos. A vida parecia não ter fim. O passar dos dias eram mais vagarosos; os dias de sol eram mais felizes; as festas em família eram mais animadas, com toda aquela gente correndo, pulando e gargalhando de um lado para o outro; o estouro do champagne era mais seco e barulhento; o som do choque das garrafas era mais límpido e estridente; e o disco do Senegal e do Carlos Barbosa pareciam-me mais lúdicos. Naquela época a vida era outra. Boa fase. Boa fase, mas que, aqui, não voltará mais - em virtude do “bolachão” do Senegal e do Carlos Barbosa, lógico. Mentira.
O tempo passou e tudo mudou. Ao mesmo passo em que a areia da ampulheta se esvai para o polo negativo, a corda se estica e, por conseguinte, fica mais suscetível ao seu ponto de rebentamento.
A casa foi demolida. Construíram um estacionamento em cima do terreno. Os dias estão voando em velocidades quase que imperceptíveis à mente humana. Os dias de sol não são mais tão agradáveis como eram; porque a camada de ozônio já está mais arregaçada que buceta de puta em época de pagamento de décimo terceiro. Hoje, as festas em família já não possuem o mesmo brilho, tal como àquele que era presente no olhar de todos os membros que um dia as constituíram. Não tenho mais forças para abrir o champagne nem um sistema auditivo apto a escutar aquele velho barulho de que não mais me recordo.
O tempo levou tudo. Só me restaram vagas impressões do que um dia existiu e que daqui um pouco não vou mais lembrar.
Assim é a vida. Assim é o tempo. Isso é existir.
Havia uma casa abandonada que sempre me chamou bastante atenção. Era cercada por uma grade verde e rodeada de mato. Ela tinha as paredes brancas com janelas e portas da mesma cor do gradeado. Curiosamente, nunca teve uma viva alma que a habitasse por muito tempo.
Quando eu era pequeno e passava por ela, delirava imaginando mil coisas que poderiam acontecer de dia e de noite naquele lugar. Era divertido. Certa vez, imaginei cobras, macacos e zebras tocando violino sob a regência de um caboclo da mata, que assumia a função de maestro. Loucura total. E naquela época nem ocorria na minha cabeça que um dia eu beberia cafés, fumaria cigarros e tomaria algumas garrafas de cerveja enquanto uma música seria executada no jukebox do boteco da esquina. Bons tempos. A vida parecia não ter fim. O passar dos dias eram mais vagarosos; os dias de sol eram mais felizes; as festas em família eram mais animadas, com toda aquela gente correndo, pulando e gargalhando de um lado para o outro; o estouro do champagne era mais seco e barulhento; o som do choque das garrafas era mais límpido e estridente; e o disco do Senegal e do Carlos Barbosa pareciam-me mais lúdicos. Naquela época a vida era outra. Boa fase. Boa fase, mas que, aqui, não voltará mais - em virtude do “bolachão” do Senegal e do Carlos Barbosa, lógico. Mentira.
O tempo passou e tudo mudou. Ao mesmo passo em que a areia da ampulheta se esvai para o polo negativo, a corda se estica e, por conseguinte, fica mais suscetível ao seu ponto de rebentamento.
A casa foi demolida. Construíram um estacionamento em cima do terreno. Os dias estão voando em velocidades quase que imperceptíveis à mente humana. Os dias de sol não são mais tão agradáveis como eram; porque a camada de ozônio já está mais arregaçada que buceta de puta em época de pagamento de décimo terceiro. Hoje, as festas em família já não possuem o mesmo brilho, tal como àquele que era presente no olhar de todos os membros que um dia as constituíram. Não tenho mais forças para abrir o champagne nem um sistema auditivo apto a escutar aquele velho barulho de que não mais me recordo.
O tempo levou tudo. Só me restaram vagas impressões do que um dia existiu e que daqui um pouco não vou mais lembrar.
Assim é a vida. Assim é o tempo. Isso é existir.
quinta-feira, 10 de julho de 2014
[bolo'bolo] NIMA
bolos não podem ser apenas vizinhanças ou arranjos materiais. Isso é só seu aspecto prático, externo. A motivação real dos ibus para viverem juntos é a bagagem cultural em comum, o nima. Todo ibu tem sua própria convicção e visão de como a vida poderia ser, mas alguns nimas só podem dar certo se ibus mentalmente semelhantes se encontrarem. Num bolo eles podem viver, transformar e completar seu nima comum. Por outro lado, os ibus cujos nimas excluem as formações sociais (eremitas, vagabundos, misantropos, yogues, loucos, anarquistas individuais, mágicos, mártires, sábios ou feiticeiras) podem ficar sozinhos e viver nos interstícios dos onipresentes, mas nunca compulsórios, bolos.
O nima contém hábitos, estilo de vida, filosofia, valores interesses, estilos de vestir, cozinha, maneiras, comportamento sexual, educação, religião, arquitetura, artesanato, arte, cores, rituais, música, dança, mitologia, pintura corporal: tudo quanto pertence a uma identidade ou tradição cultural. O nima define a vida, como o ibu a imagina, em sua forma prática de cada dia.
As fontes de nimas são múltiplas como eles. Podem ser tradições étnicas (vivas ou redescobertas), correntes filosóficas, seitas, experiências históricas, guerras ou catástrofes em comum, formas mistas ou recém-criadas. Um nima pode ser generalizado ou bem específico (como no caso de seitas ou tradições étnicas). Pode ser extremamente original ou apenas uma variação de outro nima. Pode ser bem aberto às inovações ou fechado e conservador. nimas podem aparecer como modas, espalhar-se como epidemias, e morrer. Podem ser gentis ou brutais, passivos-contemplativos ou ativos-extrovertidos.¹ Os nimas são o poder real dos bolos (poder = múltiplas possibilidades materiais e espirituais).
Como qualquer tipo de nima pode surgir, é também possível que panelinhas brutais, patriarcais, repressivas, estúpidas, fanáticas e terroristas possam se estabelecer em alguns bolos. Não existem leis nem regras humanistas, liberais ou democráticas acerca do conteúdo dos nimas e não há Estado para impor. Ninguém pode impedir um bolo de cometer suicídio em massa, de morrer devido a experiências com drogas, de mergulhar na loucura ou de ser infeliz sob um regime violento. bolos com um nima-bandido poderiam aterrorizar regiões inteiras ou continentes, como os hunos ou vikings fizeram. Liberdade e aventura, terrorismo generalizado, quadrilhas, ataques, guerras tribais, vendettas, pilhagens – dá de tudo.
Por outro lado, a lógica de bolo’bolo põe um limite na praticabilidade e na expansão desse tipo de comportamento e dessas tradições. Pilhagens e bandidagens têm sua própria economia. Além do mais, é absurdo transpor motivações do sistema atual de dinheiro e propriedade para bolo’bolo. Um bandido-bolo tem que ser relativamente forte e bem organizado, e precisa de uma estrutura de disciplina interna e repressão. Para a turminha dominante dentro de um bolo desses isso significaria vigilância permanente e muito trabalho com a repressão. Seus ibus poderiam deixar o bolo a qualquer momento, outros ibus poderiam aparecer e os bolos em volta estariam aptos a observar as estranhas evoluções de um bolo assim desde o começo. Poderiam mandar hóspedes, restringir as trocas, arruinar o munu do bandido-bolo, ajudar os oprimidos do bolo contra a turma de cima. O suprimento de comida e de produtos, bem como de armas e equipamentos, traria problemas graves. Os ibus do bandido-bolo teriam que trabalhar, antes de mais nada, para conseguir uma base para seus ataques: daí a possibilidade de uma rebelião contra os chefões. Sem um aparato de Estado em larga escala, a repressão poderia dar trabalho demais e não seria proveitosa para os opressores. Ataques e exploração também não seriam muito proveitosos porque não há meio de preservar as coisas roubadas de uma forma fácil de transportar (não há dinheiro). Ninguém entraria em intercâmbio com um bolo desses. Então ele teria que roubar produtos em sua forma natural, o que significa um monte de trabalho para o transporte e a necessidade de repetidos ataques. Como existem poucas ruas, poucos carros e escassos meios de transporte individual, um bolo-bandido só poderia atacar seus vizinhos, e esgotaria rapidamente suas fontes. Junte a isso a resistência dos outros bolos, a possível intervenção de milícias das comunidades maiores (tega, vudo, sumi: veja yaka), e a bandidagem se torna um comportamento pouco proveitoso, marginal.
Historicamente, a conquista, o saque e a opressão entre nações sempre foram efeitos da repressão interna e de falta ou impossibilidade de comunicação. Nenhuma dessas causas pode existir em bolo’bolo: os bolos são pequenos demais para uma repressão efetiva, e ao mesmo tempo os meios de comunicação são bem desenvolvidos (redes telefônicas, redes de computadores, facilidade de viajar, etc.). Em bolos isolados a dominação não compensa, e a independência só é possível com embasamento agrícola. Bolos predatórios ainda são possíveis, mas somente como um tipo de arte pela arte, e por curtos períodos de tempo. De qualquer modo, por que começaríamos tudo isso de novo agora que temos à nossa disposição as experiências da História? E quem seriam os controladores do mundo se não fôssemos mais capazes de compreender essas lições?
Numa grande cidade poderíamos encontrar os seguintes bolos: Lítero-bolo, Sym-bolo, Sado-bolo, Maso-bolo, Vege-bolo, Gay-bolo, Franco-bolo, Ítalo-bolo, Play-bolo, Não-bolo, Retro-bolo, Sol-bolo, Blue-bolo, Rock-bolo, Paleo-bolo, Dia-bolo, Punk-bolo, Krishna-bolo, Tarô-bolo, Daime-bolo, Jesu-bolo, Tao-bolo, Marl-bolo, Necro-bolo, Coco-bolo, Para-bolo, Basquete-bolo, Coca-bolo, Incapa-bolo, High-Tech-bolo, Índio-bolo, Mono-bolo, Metro-bolo, Acro-bolo, Proto-bolo, Erva-bolo, Macho-bolo, Hebro-bolo, Ruivo-bolo, Freak-bolo, Careta-bolo, Pyramido-bolo, Marx-bolo, Tara-bolo, Logo-bolo, Mago-bolo, Anarco-bolo, Eco-bolo, Dada-bolo, Dígito-bolo, Subur-bolo, Bom-bolo, Super-bolo, etc. Além disso, existem também os velhos bolos normais, onde os ibus têm uma vida comum, razoável e saudável (seja isso o que for).
A diversidade de identidades culturais destrói a moderna cultura de massas e as modas comerciais, mas também a padronizada linguagem nacional. Como não há um sistema escolar centralizado, cada bolo pode falar sua própria linguagem ou dialeto. Podem ser línguas que já existem, gírias ou linguagens artificiais. Assim a linguagem oficial, que funciona como meio de controle e dominação, decai, e daí resulta uma espécie de caos babilônico, isto é, uma ingovernabilidade através da dysinformação. Como essa desordem lingüística poderia causar alguns problemas aos viajantes, ou em emergências, existe asa’pili – um vocabulário artificial de alguns termos básicos que pode ser facilmente aprendido por todo mundo. asa’pili não é verdadeiramente uma linguagem, pois consiste de apenas algumas palavras (como: ibu, bolo, sila, nima, etc.), e seus respectivos sinais (para os que não podem ou não querem falar). Com a ajuda de asa’pili, todo ibu pode obter em qualquer lugar coisas básicas como comida, abrigo, tratamento médico, etc. Se quiser entender melhor um bolo de língua estrangeira, vai ter que estudar. Como o ibu agora tem um montão de tempo, não terá problemas. A barreira natural da linguagem também é uma proteção contra a colonização cultural. Identidades culturais não podem ser assimiladas de uma forma superficial – você realmente tem que se relacionar como todos os elementos, passar algum tempo com as pessoas.²
¹ bolos não são primariamente sistemas ecológicos de sobrevivência, pois se você quiser somente sobreviver é provável que não valha a pena. bolos são estruturas apropriadas ao surgimento de todos os tipos de estilo, filosofia, tradições e paixões. bolo’bolo não é um estilo de vida em si, mas apenas um sistema de limites flexíveis (biológicos, técnicos, energéticos, etc.). Para o conhecimento desses limites o material ecológico e alternativo pode ser valioso, mas não deveria jamais servir para determinar o conteúdo dos diferentes estilos de vida. (O fascismo também teve seus elementos bioideológicos...) No âmago de bolo’bolo está nima (identidade cultural), e não a sobrevivência. Por essa mesma razão, o nima não pode ser definido por bolo’bolo, pode somente ser vivido na prática. Nenhuma identidade alternativa em especial (comida natural, roupas de algodão, mitologia da Mãe Terra, etc.) está sendo proposta.
A função decisiva da identidade cultural pode ser bem ilustrada pelo destino dos povos colonizados. Sua miséria atual não começou com a exploração material, mas com a relativamente planejada destruição de suas tradições e religiões pelos missionários cristãos. Muitas dessas nações poderiam estar melhor, mesmo nas condições atuais, só que não sabem mais como nem para quê. A derrocada moral é pior do que a exploração econômica. (É claro que as nações industrializadas foram desmoralizadas da mesma maneira – só que aconteceu há muito mais tempo e já se tornou parte de seus padrões culturais.) Na Samoa ocidental não há fome e quase nenhuma doença, e a intensidade de trabalho é muito baixa. (Isso se deve principalmente ao clima e à relativamente monótona dieta de inhame, frutas e carne de porco.) A Samoa ocidental é um dos 33 países mais pobres do mundo. Tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo. Na maioria, os que se matam são pessoas jovens. Esses suicídios não se devem à miséria em si (embora não se possa negar que há miséria), mas à quebra moral e à falta de perspectivas. Os missionários cristãos destruíram as velhas religiões, tradições, danças, festivais, etc. As ilhas estão cheias de igrejas e de alcoólatras. O paraíso foi destruído muito antes da chegada de Margaret Mead. A despeito de algumas concepções ordinário-marxistas, cultura é mais importante do que sobrevivência material, e a hierarquia das necessidades básicas não é tão obvia como parece, e sim etnocêntrica. Comida não são somente calorias, estilos de cozinhar não são apenas luxos, casas não são somente abrigos, roupas são muito mais do que uma proteção para o corpo. Não é de se estranhar que pessoas morrendo de fome lutem por sua religião, sua honra, sua língua e outros "folclores" antes de pedir uma garantia de salário mínimo. É verdade que essas motivações foram manipuladas por facções políticas, mas isso também acontece com as lutas econômicas "razoáveis". O fato é que existem.
De onde viria o nima? Não seria correto procurar identidades culturais exclusivamente em velhas tradições étnicas. O conhecimento e a redescoberta de tais tradições são muito úteis e podem ser inspiradores, mas uma tradição também pode nascer hoje. Por que não inventar novos mitos, linguagens, novas formas de vida comunitária, de moradia, de roupas, etc.? A tradição de um pode tornar-se a utopia de outro. A invenção das identidades culturais foi comercializada e neutralizada em forma de modas, cultos, seitas, ondas e estilos. A proliferação das seitas mostra que muitas pessoas sentem necessidade de ter a vida guiada por um arquétipo ideológico bem definido. O desejo que é desvirtuado nos cultos é aquele de uma unidade entre as idéias e a vida – um novo totalitarismo ("Ora et labora"). Se bolo’bolo for considerado um tipo de totalitarismo pluralista, não será má a definição. Pode-se dizer que nos anos 60 teve início um período de invenção cultural em muitos países, especialmente os industrializados: as tradições orientais, egípcias, folclóricas, mágicas, alquímicas e outras foram revividas. Começou a experiência com estilos de vida utópicos e tradicionais. Após a decepção com as riquezas materiais das sociedades industrializadas, muita gente se voltou para a riqueza cultural.
Já que o nima é o coração do bolo, não pode ser controlado por leis nem regras. Por isso mesmo é impossível haver regulamentos para o trabalho dentro dos bolos. A definição do tempo de trabalho sempre foi a viga-mestra das construções utópicas. Thomas More (1516) garantia seis horas por dia, Weitling três horas por dia, Callembach 20 horas por semana, André Gortz (Les chemins du Paradis – l’agonie du Capital, Galilée, 1983) propõe uma vida de vinte mil horas de trabalho. Segundo a pesquisa de Marshall Sahlin, em Stone Age Economics (1972), duas ou três horas por dia vencem a corrida. A questão é saber quem deveria fazer cumprir esse horário mínimo de trabalho, e por quê. Tais regras implicam um Estado central ou organismo similar para recompensar ou punir. Já que não há Estado em bolo’bolo, não podem existir regras (mesmo as mais favoráveis) nesse campo. É o contexto cultural de um bolo que define o que é considerado trabalho (=dor) e o que é percebido como lazer (=prazer), ou se essa distinção faz realmente sentido. Cozinhar pode ser um ritual muito importante num bolo, uma paixão, enquanto em outro é visto como tediosa necessidade. Talvez neste a música seja mais importante, enquanto naquele seria tido como barulho. Ninguém pode saber se um bolo vai usar setenta ou quinze horas semanais de trabalho. Não há estilo de vida obrigatório, nenhuma contabilidade geral de trabalho e lazer; unicamente um fluxo mais ou menos livre de paixões, perversões, aberrações, etc.
² Porque não escolher uma língua internacional que já existe, como o inglês ou o espanhol? É impossível, porque essas línguas têm sido os instrumentos do colonialismo cultural e tendem a decompor as tradições e os dialetos locais. A instituição de línguas "nacionais" padronizadas nos séculos 16 e 17 foi um dos primeiros passos da jovem burguesia para dar transparência ao proletariado fabril recém-nascido: você só pode impor regras e leis se elas forem compreendidas. A incompreensão ou fingir-se de bobo foram das primeiras formas de recusa à disciplina industrial. As mesmas línguas "nacionais" se tornaram mais tarde instrumentos de disciplina a nível imperialista. bolo’bolo significa que todo mundo fica bolo de novo...
Mesmo as chamadas línguas internacionais, como o esperanto, são modeladas nas línguas nacionais européias e ligadas às culturas imperialistas.
A única solução é uma língua completamente fortuita, desconectada e artificial, sem ligações culturais. É assim que asa’pili foi sonhada pelo ibu, e nenhuma pesquisa, etimológica ou não, poderá explicar por que um ibu é um ibu, um bolo é um bolo, um taku é um taku, etc.
asa’pili é formada de um grupo de 18 sons (e uma pausa) encontrados nas mais diversas linguagens e pronunciados exatamente como no português. O "l" pode ser pronunciado também como "r". A acentuação é livre.
Os termos de asa’pili podem ser escritos através de sinais; não é necessário um alfabeto. Do mesmo jeito que nesta edição as palavras utilizam caracteres latinos, outros alfabetos (hebraico, árabe, cirílico, grego, etc.) podem ser usados.
A repetição de uma palavra indica o plural orgânico: bolo’bolo = todos os bolos, o sistema de bolos. Graças ao apóstrofo ( ‘ ), palavras compostas podem ser criadas à vontade. A primeira determina a Segunda (ao contrário do português): asa’pili (linguagem planetária), fasi’ibu (viajante), yalu’gano (restaurante), etc.
Além dessa pequena asa’pili (tem cerca de 30 palavras apenas), pode ser criada outra para intercâmbios científicos, convenções internacionais, etc. Cabe à assembléia planetária definir um dicionário e uma gramática. Esperemos que seja fácil.
O nima contém hábitos, estilo de vida, filosofia, valores interesses, estilos de vestir, cozinha, maneiras, comportamento sexual, educação, religião, arquitetura, artesanato, arte, cores, rituais, música, dança, mitologia, pintura corporal: tudo quanto pertence a uma identidade ou tradição cultural. O nima define a vida, como o ibu a imagina, em sua forma prática de cada dia.
As fontes de nimas são múltiplas como eles. Podem ser tradições étnicas (vivas ou redescobertas), correntes filosóficas, seitas, experiências históricas, guerras ou catástrofes em comum, formas mistas ou recém-criadas. Um nima pode ser generalizado ou bem específico (como no caso de seitas ou tradições étnicas). Pode ser extremamente original ou apenas uma variação de outro nima. Pode ser bem aberto às inovações ou fechado e conservador. nimas podem aparecer como modas, espalhar-se como epidemias, e morrer. Podem ser gentis ou brutais, passivos-contemplativos ou ativos-extrovertidos.¹ Os nimas são o poder real dos bolos (poder = múltiplas possibilidades materiais e espirituais).
Como qualquer tipo de nima pode surgir, é também possível que panelinhas brutais, patriarcais, repressivas, estúpidas, fanáticas e terroristas possam se estabelecer em alguns bolos. Não existem leis nem regras humanistas, liberais ou democráticas acerca do conteúdo dos nimas e não há Estado para impor. Ninguém pode impedir um bolo de cometer suicídio em massa, de morrer devido a experiências com drogas, de mergulhar na loucura ou de ser infeliz sob um regime violento. bolos com um nima-bandido poderiam aterrorizar regiões inteiras ou continentes, como os hunos ou vikings fizeram. Liberdade e aventura, terrorismo generalizado, quadrilhas, ataques, guerras tribais, vendettas, pilhagens – dá de tudo.
Por outro lado, a lógica de bolo’bolo põe um limite na praticabilidade e na expansão desse tipo de comportamento e dessas tradições. Pilhagens e bandidagens têm sua própria economia. Além do mais, é absurdo transpor motivações do sistema atual de dinheiro e propriedade para bolo’bolo. Um bandido-bolo tem que ser relativamente forte e bem organizado, e precisa de uma estrutura de disciplina interna e repressão. Para a turminha dominante dentro de um bolo desses isso significaria vigilância permanente e muito trabalho com a repressão. Seus ibus poderiam deixar o bolo a qualquer momento, outros ibus poderiam aparecer e os bolos em volta estariam aptos a observar as estranhas evoluções de um bolo assim desde o começo. Poderiam mandar hóspedes, restringir as trocas, arruinar o munu do bandido-bolo, ajudar os oprimidos do bolo contra a turma de cima. O suprimento de comida e de produtos, bem como de armas e equipamentos, traria problemas graves. Os ibus do bandido-bolo teriam que trabalhar, antes de mais nada, para conseguir uma base para seus ataques: daí a possibilidade de uma rebelião contra os chefões. Sem um aparato de Estado em larga escala, a repressão poderia dar trabalho demais e não seria proveitosa para os opressores. Ataques e exploração também não seriam muito proveitosos porque não há meio de preservar as coisas roubadas de uma forma fácil de transportar (não há dinheiro). Ninguém entraria em intercâmbio com um bolo desses. Então ele teria que roubar produtos em sua forma natural, o que significa um monte de trabalho para o transporte e a necessidade de repetidos ataques. Como existem poucas ruas, poucos carros e escassos meios de transporte individual, um bolo-bandido só poderia atacar seus vizinhos, e esgotaria rapidamente suas fontes. Junte a isso a resistência dos outros bolos, a possível intervenção de milícias das comunidades maiores (tega, vudo, sumi: veja yaka), e a bandidagem se torna um comportamento pouco proveitoso, marginal.
Historicamente, a conquista, o saque e a opressão entre nações sempre foram efeitos da repressão interna e de falta ou impossibilidade de comunicação. Nenhuma dessas causas pode existir em bolo’bolo: os bolos são pequenos demais para uma repressão efetiva, e ao mesmo tempo os meios de comunicação são bem desenvolvidos (redes telefônicas, redes de computadores, facilidade de viajar, etc.). Em bolos isolados a dominação não compensa, e a independência só é possível com embasamento agrícola. Bolos predatórios ainda são possíveis, mas somente como um tipo de arte pela arte, e por curtos períodos de tempo. De qualquer modo, por que começaríamos tudo isso de novo agora que temos à nossa disposição as experiências da História? E quem seriam os controladores do mundo se não fôssemos mais capazes de compreender essas lições?
Numa grande cidade poderíamos encontrar os seguintes bolos: Lítero-bolo, Sym-bolo, Sado-bolo, Maso-bolo, Vege-bolo, Gay-bolo, Franco-bolo, Ítalo-bolo, Play-bolo, Não-bolo, Retro-bolo, Sol-bolo, Blue-bolo, Rock-bolo, Paleo-bolo, Dia-bolo, Punk-bolo, Krishna-bolo, Tarô-bolo, Daime-bolo, Jesu-bolo, Tao-bolo, Marl-bolo, Necro-bolo, Coco-bolo, Para-bolo, Basquete-bolo, Coca-bolo, Incapa-bolo, High-Tech-bolo, Índio-bolo, Mono-bolo, Metro-bolo, Acro-bolo, Proto-bolo, Erva-bolo, Macho-bolo, Hebro-bolo, Ruivo-bolo, Freak-bolo, Careta-bolo, Pyramido-bolo, Marx-bolo, Tara-bolo, Logo-bolo, Mago-bolo, Anarco-bolo, Eco-bolo, Dada-bolo, Dígito-bolo, Subur-bolo, Bom-bolo, Super-bolo, etc. Além disso, existem também os velhos bolos normais, onde os ibus têm uma vida comum, razoável e saudável (seja isso o que for).
A diversidade de identidades culturais destrói a moderna cultura de massas e as modas comerciais, mas também a padronizada linguagem nacional. Como não há um sistema escolar centralizado, cada bolo pode falar sua própria linguagem ou dialeto. Podem ser línguas que já existem, gírias ou linguagens artificiais. Assim a linguagem oficial, que funciona como meio de controle e dominação, decai, e daí resulta uma espécie de caos babilônico, isto é, uma ingovernabilidade através da dysinformação. Como essa desordem lingüística poderia causar alguns problemas aos viajantes, ou em emergências, existe asa’pili – um vocabulário artificial de alguns termos básicos que pode ser facilmente aprendido por todo mundo. asa’pili não é verdadeiramente uma linguagem, pois consiste de apenas algumas palavras (como: ibu, bolo, sila, nima, etc.), e seus respectivos sinais (para os que não podem ou não querem falar). Com a ajuda de asa’pili, todo ibu pode obter em qualquer lugar coisas básicas como comida, abrigo, tratamento médico, etc. Se quiser entender melhor um bolo de língua estrangeira, vai ter que estudar. Como o ibu agora tem um montão de tempo, não terá problemas. A barreira natural da linguagem também é uma proteção contra a colonização cultural. Identidades culturais não podem ser assimiladas de uma forma superficial – você realmente tem que se relacionar como todos os elementos, passar algum tempo com as pessoas.²
¹ bolos não são primariamente sistemas ecológicos de sobrevivência, pois se você quiser somente sobreviver é provável que não valha a pena. bolos são estruturas apropriadas ao surgimento de todos os tipos de estilo, filosofia, tradições e paixões. bolo’bolo não é um estilo de vida em si, mas apenas um sistema de limites flexíveis (biológicos, técnicos, energéticos, etc.). Para o conhecimento desses limites o material ecológico e alternativo pode ser valioso, mas não deveria jamais servir para determinar o conteúdo dos diferentes estilos de vida. (O fascismo também teve seus elementos bioideológicos...) No âmago de bolo’bolo está nima (identidade cultural), e não a sobrevivência. Por essa mesma razão, o nima não pode ser definido por bolo’bolo, pode somente ser vivido na prática. Nenhuma identidade alternativa em especial (comida natural, roupas de algodão, mitologia da Mãe Terra, etc.) está sendo proposta.
A função decisiva da identidade cultural pode ser bem ilustrada pelo destino dos povos colonizados. Sua miséria atual não começou com a exploração material, mas com a relativamente planejada destruição de suas tradições e religiões pelos missionários cristãos. Muitas dessas nações poderiam estar melhor, mesmo nas condições atuais, só que não sabem mais como nem para quê. A derrocada moral é pior do que a exploração econômica. (É claro que as nações industrializadas foram desmoralizadas da mesma maneira – só que aconteceu há muito mais tempo e já se tornou parte de seus padrões culturais.) Na Samoa ocidental não há fome e quase nenhuma doença, e a intensidade de trabalho é muito baixa. (Isso se deve principalmente ao clima e à relativamente monótona dieta de inhame, frutas e carne de porco.) A Samoa ocidental é um dos 33 países mais pobres do mundo. Tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo. Na maioria, os que se matam são pessoas jovens. Esses suicídios não se devem à miséria em si (embora não se possa negar que há miséria), mas à quebra moral e à falta de perspectivas. Os missionários cristãos destruíram as velhas religiões, tradições, danças, festivais, etc. As ilhas estão cheias de igrejas e de alcoólatras. O paraíso foi destruído muito antes da chegada de Margaret Mead. A despeito de algumas concepções ordinário-marxistas, cultura é mais importante do que sobrevivência material, e a hierarquia das necessidades básicas não é tão obvia como parece, e sim etnocêntrica. Comida não são somente calorias, estilos de cozinhar não são apenas luxos, casas não são somente abrigos, roupas são muito mais do que uma proteção para o corpo. Não é de se estranhar que pessoas morrendo de fome lutem por sua religião, sua honra, sua língua e outros "folclores" antes de pedir uma garantia de salário mínimo. É verdade que essas motivações foram manipuladas por facções políticas, mas isso também acontece com as lutas econômicas "razoáveis". O fato é que existem.
De onde viria o nima? Não seria correto procurar identidades culturais exclusivamente em velhas tradições étnicas. O conhecimento e a redescoberta de tais tradições são muito úteis e podem ser inspiradores, mas uma tradição também pode nascer hoje. Por que não inventar novos mitos, linguagens, novas formas de vida comunitária, de moradia, de roupas, etc.? A tradição de um pode tornar-se a utopia de outro. A invenção das identidades culturais foi comercializada e neutralizada em forma de modas, cultos, seitas, ondas e estilos. A proliferação das seitas mostra que muitas pessoas sentem necessidade de ter a vida guiada por um arquétipo ideológico bem definido. O desejo que é desvirtuado nos cultos é aquele de uma unidade entre as idéias e a vida – um novo totalitarismo ("Ora et labora"). Se bolo’bolo for considerado um tipo de totalitarismo pluralista, não será má a definição. Pode-se dizer que nos anos 60 teve início um período de invenção cultural em muitos países, especialmente os industrializados: as tradições orientais, egípcias, folclóricas, mágicas, alquímicas e outras foram revividas. Começou a experiência com estilos de vida utópicos e tradicionais. Após a decepção com as riquezas materiais das sociedades industrializadas, muita gente se voltou para a riqueza cultural.
Já que o nima é o coração do bolo, não pode ser controlado por leis nem regras. Por isso mesmo é impossível haver regulamentos para o trabalho dentro dos bolos. A definição do tempo de trabalho sempre foi a viga-mestra das construções utópicas. Thomas More (1516) garantia seis horas por dia, Weitling três horas por dia, Callembach 20 horas por semana, André Gortz (Les chemins du Paradis – l’agonie du Capital, Galilée, 1983) propõe uma vida de vinte mil horas de trabalho. Segundo a pesquisa de Marshall Sahlin, em Stone Age Economics (1972), duas ou três horas por dia vencem a corrida. A questão é saber quem deveria fazer cumprir esse horário mínimo de trabalho, e por quê. Tais regras implicam um Estado central ou organismo similar para recompensar ou punir. Já que não há Estado em bolo’bolo, não podem existir regras (mesmo as mais favoráveis) nesse campo. É o contexto cultural de um bolo que define o que é considerado trabalho (=dor) e o que é percebido como lazer (=prazer), ou se essa distinção faz realmente sentido. Cozinhar pode ser um ritual muito importante num bolo, uma paixão, enquanto em outro é visto como tediosa necessidade. Talvez neste a música seja mais importante, enquanto naquele seria tido como barulho. Ninguém pode saber se um bolo vai usar setenta ou quinze horas semanais de trabalho. Não há estilo de vida obrigatório, nenhuma contabilidade geral de trabalho e lazer; unicamente um fluxo mais ou menos livre de paixões, perversões, aberrações, etc.
² Porque não escolher uma língua internacional que já existe, como o inglês ou o espanhol? É impossível, porque essas línguas têm sido os instrumentos do colonialismo cultural e tendem a decompor as tradições e os dialetos locais. A instituição de línguas "nacionais" padronizadas nos séculos 16 e 17 foi um dos primeiros passos da jovem burguesia para dar transparência ao proletariado fabril recém-nascido: você só pode impor regras e leis se elas forem compreendidas. A incompreensão ou fingir-se de bobo foram das primeiras formas de recusa à disciplina industrial. As mesmas línguas "nacionais" se tornaram mais tarde instrumentos de disciplina a nível imperialista. bolo’bolo significa que todo mundo fica bolo de novo...
Mesmo as chamadas línguas internacionais, como o esperanto, são modeladas nas línguas nacionais européias e ligadas às culturas imperialistas.
A única solução é uma língua completamente fortuita, desconectada e artificial, sem ligações culturais. É assim que asa’pili foi sonhada pelo ibu, e nenhuma pesquisa, etimológica ou não, poderá explicar por que um ibu é um ibu, um bolo é um bolo, um taku é um taku, etc.
asa’pili é formada de um grupo de 18 sons (e uma pausa) encontrados nas mais diversas linguagens e pronunciados exatamente como no português. O "l" pode ser pronunciado também como "r". A acentuação é livre.
Os termos de asa’pili podem ser escritos através de sinais; não é necessário um alfabeto. Do mesmo jeito que nesta edição as palavras utilizam caracteres latinos, outros alfabetos (hebraico, árabe, cirílico, grego, etc.) podem ser usados.
A repetição de uma palavra indica o plural orgânico: bolo’bolo = todos os bolos, o sistema de bolos. Graças ao apóstrofo ( ‘ ), palavras compostas podem ser criadas à vontade. A primeira determina a Segunda (ao contrário do português): asa’pili (linguagem planetária), fasi’ibu (viajante), yalu’gano (restaurante), etc.
Além dessa pequena asa’pili (tem cerca de 30 palavras apenas), pode ser criada outra para intercâmbios científicos, convenções internacionais, etc. Cabe à assembléia planetária definir um dicionário e uma gramática. Esperemos que seja fácil.
Assinar:
Postagens (Atom)
#ALGUNS DIREITOS RESERVADOS
 blog O DILÚVIO by
O DILÚVIO is licensed under a
Creative Commons Atribuição-Compartilhamento pela mesma Licença 3.0 Brasil License.
blog O DILÚVIO by
O DILÚVIO is licensed under a
Creative Commons Atribuição-Compartilhamento pela mesma Licença 3.0 Brasil License.
Você pode:
- Compartilhar — copiar, distribuir e transmitir a obra.
- Remixar — criar obras derivadas.
Sob as seguintes condições:
-
Atribuição — Você deve creditar a obra da forma especificada pelo autor ou licenciante (mas não de maneira que sugira que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da obra).
-
Compartilhamento pela mesma licença — Se você alterar, transformar ou criar em cima desta obra, você poderá distribuir a obra resultante apenas sob a mesma licença, ou sob licença similar ou compatível.
Ficando claro que:
- Renúncia — Qualquer das condições acima pode ser renunciada se você obtiver permissão do titular dos direitos autorais.
- Domínio Público — Onde a obra ou qualquer de seus elementos estiver em domínio público sob o direito aplicável, esta condição não é, de maneira alguma, afetada pela licença.
- Outros Direitos — Os seguintes direitos não são, de maneira alguma, afetados pela licença:
- Limitações e exceções aos direitos autorais ou quaisquer usos livres aplicáveis;
- Os direitos morais do autor;
- Direitos que outras pessoas podem ter sobre a obra ou sobre a utilização da obra, tais como direitos de imagem ou privacidade.
- Aviso — Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta obra. A melhor maneira de fazer isso é com um link para esta página.
.
@